
por Jorge de Souza | jun 16, 2023
Em julho de 1967, o município de São Vicente, no litoral de São Paulo, ganhou uma atração turística que logo se tornaria a principal da cidade: o Oceanorium, um tanque de água de 12 metros de diâmetro por 5 de profundidade, no qual aconteciam apresentações de focas e golfinhos amestrados.
Diversos animais ali se apresentaram, mas poucos sobreviveram por muito tempo naquele acanhado cativeiro.
Foi quando o dono do empreendimento, o francês Roland Marc Degret, incomodado com a excessiva rotatividade de animais – o que implicava em despesas frequentes para treiná-los – decidiu encomendar um novo golfinho para os espetáculos.
Mas com uma ressalva: teria que ser um filhote, porque, além de o transporte do animal até o tanque ser mais fácil, o investimento no seu treinamento valeria mais a pena, já que ele viveria por mais tempo – embora não muito, porque estudos já indicavam que, preso em cativeiro, a vida média de um golfinho girava em torno de apenas 12 anos, contra de 30 a 50 quando solto na natureza.
Em seguida, Degret montou uma pequena equipe e rumou para o local da costa brasileira de mais fácil contato com golfinhos da espécie nariz de garrafa, os preferidos em shows do gênero: o canal de acesso ao porto da cidade de Laguna, no litoral de Santa Catarina, onde havia diversos grupos desses golfinhos, lá chamados de “botos”.
Em Laguna, o empresário contratou um velho pescador local, apelidado Tido, para o serviço de captura de um filhote, entre os botos que habitavam o canal. O escolhido foi um jovem macho, então com cerca de dois anos de idade – fase da vida em que começava a não mais depender da mãe, uma fêmea chamada “Dolores”, bastante famosa entre os pescadores da cidade, porque participava dos cercos aos cardumes de peixes, encurralando-os entre as redes, fenômeno típico da cidade.
Por conta disso, o filhote já semi-independente de Dolores seria uma presa relativamente fácil. E foi mesmo.
Em apenas um par de dias, o animal foi capturado com uma rede na calada da noite, sedado, colocado na caçamba de uma picape revestida com uma lona e um palmo de água, levado para São Vicente, a quase 1 000 quilômetros de distância, e separado para sempre do seu grupo familiar.
Era início de 1984, e começava ali o martírio do futuro golfinho “Flipper”, assim batizado porque este era o nome do mais famoso seriado infanto-juvenil da televisão, nos anos de 1970.
O objetivo era gerar confusão na cabeça das crianças, que imaginariam estar vendo, no tosco Oceanarium de São Vicente, o famoso golfinho da TV americana. O sucesso foi imediato.
Rapidamente, às custas de muitas punições e sofrimentos, o animal foi treinado a dar saltos, piruetas, empurrar bolas e bonecas com o bico, nadar de óculos escuros, entre outras barbaridades. E virou a principal estrela da cidade. Nem mesmo o ritmo de diversos shows por dia dava conta da quantidade de pessoas queriam ver de perto o “Flipper brasileiro”, nadando eternamente em círculos, naquele acanhado tanque-aquário.
Até que, em 1991, sete após a captura do golfinho – e logo após o responsável pelo ato ter enriquecido e vendido o negócio para outro empresário da cidade, uma ação pública, movida pelo ambientalista Márcio Augelli, então diretor de uma entidade de proteção de botos amazônicos, foi impetrada na justiça, pedindo a devolução do golfinho-espetáculo ao mar, com base na primeira lei de proteção animal que o Brasil teve.
Na ocasião, o juiz que julgou o caso não acatou os argumentos do ambientalista, e manteve o golfinho sob a guarda do empresário. Mas, com base em evidências de maus tratos, mandou fechar o Oceanarium e proibiu os espetáculos. Foi ainda pior.
Com o aquário fechado e sem o lucro dos ingressos vendidos à plateia, a vida de Flipper se tornou ainda mais sombria.
Sem treinadores nem cuidadores, o animal foi praticamente abandonado e passou a viver em um tanque cada vez mais imundo e insalubre, o que levou o ambientalista Augelli a agir novamente – desta vez, em uma esfera internacional.
A partir da denúncia feita por uma entidade que ele mesmo ajudou a criar,
a bem intencionada Associação dos Amigos do Golfinho Flipper, a WSPA – World Society for the Protection of Animals, maior sociedade protetora dos direitos animais no mundo foi acionada, e seus advogados recorreram, uma vez mais, à justiça brasileira, pleiteando a soltura do animal – o que, finalmente, foi acatado.
Quando isso aconteceu, Flipper passava os dias e noites apático, boiado na superfície à espera de companhia (o que lhe rendeu doloridas queimaduras no dorso do corpo), dentro de um tanque de água cujo filtro estava quebrado, e, por causa disso, com uma espessa camada de fezes acumuladas no fundo. Para disfarçar o problema, o dono do local mandava aplicar cloro na água, e isso rendeu ao golfinho uma severa irritação nos olhos.
Além de conseguir judicialmente a devolução de Flipper ao mar (desde que arcando com todos os custos da operação, o que não deixou de ser uma boa notícia para o dono do então falido Oceanorium), a WSPA também contratou os serviços de um especialista na reabilitação de seres marinhos para a vida na natureza: o americano Richard Barry O´Feldman, mais conhecido como Ric O´Barry, um ex-treinador de golfinhos para espetáculos, que dizia ter “mudado de lado”, ao testemunhar a morte – segundo ele, por suicídio, ao se arremessar de encontro às paredes do aquário – de um dos animais que ele amestrava, no Seaquarium de Miami.
Saudado como o “salvador de Flipper”, O´Barry – que, no passado, também havia ajudado a treinar os cinco animais homônimos utilizados no famoso seriado – chegou ao Brasil sob as luzes dos holofotes, que ele tanto apreciava. Suas primeiras medidas, no entanto, foram coerentes: mandou trocar toda a água do tanque, restaurou o filtro, planejou detalhes técnicos para o transporte do animal (sedativos, helicóptero, caixa úmida e uma maca forrada com uma espessa camada de espuma, para que os órgãos internos do golfinho não fossem esmagados pelos seus próprios 250 quilos de peso), e viajou para conhecer o local onde a soltura aconteceria: o próprio canal de acesso ao porto de Laguna, onde Flipper havia sido capturado, nove anos antes.
Ali, O´Barry mandou construir uma espécie de cercado, em uma das margens do canal, onde Flipper seria “reeducado à vida selvagem”, o que, na prática, significava apenas reensiná-lo a capturar o próprio alimento. Em seguida, o americano retornou à São Vicente, para comandar a operação de remoção do animal.
Na despedida de Flipper do seu tanque-cativeiro, no dia 17 de janeiro de 1993, perto de 5 000 pessoas se aglomeraram diante do Oceanarium da cidade, para dar adeus ao golfinho que tanto os divertira naqueles patéticos espetáculos. Algumas crianças até choravam, enquanto O´Barry se dividia entre entrevistas aos repórteres, poses para os fotógrafos, e uma ou outra ordem aos seus auxiliares.
No auge do espetáculo em que se transformara a remoção do animal, um grande helicóptero pousou bem ao lado do tanque, e Flipper, já sedado, foi colocado sobre a maca e alocado dentro de uma espécie de caixa com água, para que sua pele não ressecasse durante a viagem. Mas, na hora de embarcar, descobriu-se que a caixa era grande demais para a largura da porta da aeronave. A solução foi cortar, ali mesmo, um pedaço da caixa, o que fez com que a operação completa levasse mais de duas horas. Mas, no final, deu tudo certo.
Quando Flipper voltou a si, já estava dentro do cercado construído no canal do porto de Laguna, onde deveria passar um bom tempo, sendo treinado pelo americano para voltar a caçar o próprio alimento – um processo naturalmente lento, mas fundamental para garantir a sua sobrevivência futura.
Ocasionalmente, também passou a ser visitado, pelo outro lado da cerca, por outros botos, mas nunca ficou claro se eles pertenciam ao seu grupo familiar (já que, naquela época, a mãe de Flipper, Dolores, bem como seus irmãos, ainda estavam vivos) ou se eram apenas animais defendendo o seu território contra aquele “intruso” recém-chegado.
O´Barry começou a readaptação oferecendo peixes mortos à Flipper, como no acontecia no Oceanarium, uma vez que, após tantos anos de confinamento, ele havia autodesativado o seu sonar, capacidade que permite aos golfinhos se localizar e encontrar alimento no mar. No tanque, a pouca distância entre o animal e as paredes fazia com que o som emitido por ele retornasse de forma violenta, o que o levou o golfinho a parar de usar o recurso. Biólogos e veterinários acreditavam que aquela perda seria irreversível. Mas eles estavam errados. Logo, Flipper voltou a usar o seu sonar e, graças a isso, passou a detectar a presença de peixes vivos na água – quer dizer, quase isso, porque a princípio O´Barry atirava apenas peixes quase mortos e bastante lentos, a fim de se tornarem presas fáceis.
Na medida em que Flipper foi recuperando suas habilidades predadoras e fortalecendo os músculos atrofiados pelas limitações do tanque, o americano, já visivelmente incomodado com sua permanência em Laguna (e, principalmente, com os atrasos nos pagamentos feitos pela WSPA), passou a acelerar o processo de reintrodução do golfinho no mar. Até que anunciou que já o considerava pronto para ser solto – uma decisão claramente precipitada, uma vez apenas 43 dias haviam se passado desde que Flipper saíra do cativeiro.
No dia escolhido para a soltura, diante de outra grande platéia e diversas câmeras de TV, O´Barry entrou na água, nadou até o cercado, removeu parte da cerca e, sempre seguido por Flipper, passou para o outro lado. Houve uma chuva de aplausos. Mas, a princípio, o golfinho ficou apenas indo e vindo na direção do cercado. O americano saiu da água comemorando, e disse aos repórteres que aquele comportamento era normal, e que Flipper ficaria nas imediações do canal, até ser novamente aceito pelos grupos de botos da cidade. Em seguida, fez as malas e foi embora. Para sempre.
Durante as duas semanas seguintes, a previsão de Ric O´Barry, de fato, se confirmou: Flipper, facilmente identificável graças a uma marcação feita na sua nadadeira dorsal, com o formato da bandeira do Brasil, pouco antes da soltura, era visto com frequência na região, tentando interagir com os demais botos. Mas, passado isso, foi embora dali.
Dias depois, foi visto a quase 100 quilômetros dali, com alguns arranhões pelo corpo, sinal de que andara tendo encontros não muito amistosos com outros da sua espécie – ou que havia sido rechaçado pelos botos de Laguna, daí ter ido embora do canal.
Mais tarde, para surpresa dos especialistas, apareceu, sozinho – comportamento incomum entre os golfinhos -, na mesma região de São Vicente, a quase 1 000 quilômetros de distância, o que levou parte dos moradores da cidade a festejar que “Flipper havia voltado para casa” – e alguns chegaram mesmo a pensar em recapturá-lo. Mas Flipper sumiu novamente.
Um ano depois, voltou a ser visto – sempre sozinho – naquela mesma faixa de mar do litoral paulista, para então só reaparecer no final de 1995, no interior da baía de Paranaguá, a mais de 400 quilômetros de distância tanto de São Vicente quanto de Laguna, onde nunca mais foi avistado.
Foi a última vez que se teve notícias do golfinho mais famoso do Brasil, menos de três anos após ele ser devolvido à natureza – e a maneira como isso foi feito contribuiu decisivamente para o semi-fracasso da operação.
Tivesse Flipper passado por um processo mais lento e paciente de readaptação, talvez estivesse nadando até hoje no mar da região – o que, pelo menos matematicamente, pela sua idade, ainda seria possível. Mas ele nunca mais foi avistado, nem seu corpo jamais foi encontrado.
O mais provável é que Flipper tenha morrido logo após aquela última avistagem, baía de Paranaguá, vítima de fraqueza, doença, rejeição, depressão ou ataque de algum predador, quando ainda era relativamente jovem para um golfinho adulto.
Como consolo ficou apenas o fato de que, seja lá o que tenha ocorrido, aconteceu quando ele já estava solto na natureza, e não preso dentro de um tanque de concreto.
No infame aquário de São Vicente, o Flipper brasileiro, último golfinho mantido em cativeiro no Brasil (depois dele, os espetáculos do gênero foram proibidos em todo o país), poderia ter vivido mais tempo.
Mas privado do bem mais precioso a todos seres vivos: a liberdade.
Olhando por este prisma, talvez tenha valido a pena.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | maio 30, 2023
Em novembro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, um submarino japonês atacou e afundou o navio inglês SS Tilawa, quando ele navegava a cerca de 1 500 quilômetros da costa da África, com 958 pessoas a bordo e uma carga igualmente valiosa: 60 toneladas de lingotes de prata, que estavam sendo transportados para a África do Sul.
No ano passado, 80 anos após o episódio que gerou a morte de 280 ocupantes do navio e o desaparecimento de 2 364 lingotes de prata no fundo do mar, o assunto voltou à tona, nos tribunais da Inglaterra.
Numa decisão que gerou indignação no governo da África do Sul, que sempre se considerou dono daquelas barras de prata, já que elas haviam sido encomendadas para a confecção de moedas do país, o tribunal do Almirantado Britânico, a quem cabe julgar casos que envolvam embarcações do Reino Unido ocorridos no mar, decidiu que não procede a alegação dos sul-africanos.
E deu ganho de causa ao inglês Ross Hyett, um caçador profissional de tesouros em naufrágios, dono da empresa Argentum Exploration, que encontrou os restos do SS Tilawa em 2014, de olho, justamente, na valiosa carga que ele transportava.
“A carga do navio tinha propósitos comerciais, portanto a alegação do governo Sul-Africano de que a prata pertence ao seu Estado não tem fundamento”, concluiu o juiz inglês, no seu despacho, que beneficiou diretamente o seu conterrâneo, Ross Hyett.
O inglês Hyett, de 67 anos, um ex-piloto de corridas de automóveis, que, ao se aposentar das pistas, passou a se dedicar à caça de tesouros perdidos no mar, comemorou a decisão.
Mas este caso está longe de ter terminado.
O SS Tilawa, que vinha de Bombai, na Índia, rumo ao porto de Mombasa, no Quênia, com escalas em Maputo, em Moçambique, e Durban, na África do Sul, onde a prata seria desembarcada, afundou na madrugada de 23 de novembro de 1942, após ser atingido por dois torpedos disparados pelo submarino japonês I-29, quando navegava nas proximidades das Ilhas Seychelles, ao final do seu quarto dia de travessia.
Entre um disparo e outro, houve um intervalo de cerca de 30 minutos, o bastante para a maioria da tripulação e dos passageiros, quase todos indianos que partiam para tentar a vida na África, embarcassem em botes salva-vidas e escapassem com vida do naufrágio – embora muitos deles tenham morrido depois, por afogamento, quando os botes começaram a afundar, pelo excesso de peso.
O socorro só veio dois dias depois, quando o cruzador inglês HMS Birmingham, que havia recebido o pedido de socorro do operador de rádio do SS Tilawa (que morreu justamente por causa disso, já que não conseguiu escapar a tempo do navio, antes do disparo do segundo torpedo), finalmente chegou ao local e começou a recolher os sobreviventes.
Já o SS Tilawa afundou feito uma pedra, em local não precisamente definido.
Com o passar do tempo, até o próprio governo sul-africano pareceu ter esquecido o acidente e a prata perdida no mar.
Até que, em 2014, após intensas pesquisas (e suspeitos contatos com informantes secretos), Hyett achou os restos do navio, mas não contou isso a ninguém.
Três anos depois, em 2017, após conseguir recursos através de sociedades com outras empresas do ramo, Hyett passou a retirar, secretamente, os lingotes de prata do navio afundado, atividade que consumiu cerca de seis meses.
Isso só foi possível porque o local do naufrágio ficava fora das águas territoriais dos países da costa leste africana, nas chamadas “Águas Internacionais”, o que, num primeiro momento, deu certa tranquilidade a Hyett, já que, mesmo se fosse descoberto, ele não estaria infringindo nenhuma lei.
Mas, por precaução, para evitar confiscos, toda a prata retirada do navio afundado passou a ficar estocada em caixas no próprio fundo do mar, à espera de serem içadas de uma só vez, pouco antes da partida de Hyett e sua equipe, de volta à Inglaterra – para onde todos os lingotes resgatados foram efetivamente levados.
Também por precaução, Hyett optou por fazer o caminho mais longo rumo à Inglaterra, contornando toda a África, em vez de usar o Canal de Suez, o que encurtaria barbaramente a viagem – mas o obrigaria a declarar sua carga sigilosa às autoridades portuárias.
No final de 2017, as 60 toneladas de prata retiradas do SS Tilawa chegaram ao porto de Southampton, na Inglaterra, tornando Hyett momentaneamente milionário – embora, como quase sempre acontece nos casos de grandes achados no fundo do mar, ele não tenha tornado pública a sua descoberta.
Mas o que Hyett não sabia era que, pouco antes disso, outra empresa de exploração de naufrágios, a americana Odyssey Marine Exploration, havia entrado em contato com o governo da África do Sul, propondo justamente encontrar o SS Tilawa e dividir o tesouro com os sul-africanos.
A proposta reavivou no governo da África do Sul a lembrança da prata perdida e atiçou o desejo de resgatá-la.
Só que Hyett já havia feito isso, meses antes, o que seria descoberto em seguida.
Como a prata resgatada (“roubada”, na opinião dos sul-africanos) já estava em solo inglês, só restou ao governo da África do Sul recorrer ao Tribunal do Almirantado Britânico, na esperança de que a ação de Hyett fosse julgada ilegal, o que, no entanto, não aconteceu.
Ao contrário, o tribunal reforçou a tese de que o explorador inglês tinha direitos sobre a prata encontrada, “porque, muito provavelmente, ela só fora lembrada pelo governo sul-africano quando houve a proposta da Odyssey”, como o juiz argumentou em seu despacho.
No entanto, a decisão não foi definitiva, o que, por enquanto, impede de se colocar um ponto final nesta história.
Isso porque, a empresa de Hyett, tal qual a maioria das que exploram naufrágios, é vista com ressalvas pelas autoridades, por conta dos meios questionáveis que o inglês costuma empregar para encontrar e resgatar conteúdos de navios naufragados – como contatos nebulosos, subornos e explorações sem as devidas autorizações.
Na mesma época do achado do SS Tilawa, Hyett, por meio de outra empresa na qual era sócio, esteve envolvido em outro polêmico resgate: o do galeão espanhol San Jose, encontrado anos atrás, na costa da Colômbia, onde afundou em 1708, com uma quantidade inédita de ouro, prata e pedras preciosas, hoje avaliadas em cerca de US$ 20 bilhões – caso que também ainda não teve uma solução.
No caso da prata já retirada do navio que se seguia para a África – e agora cobrada pelos sul-africanos -, Hyett não exclui a possibilidade de negociar com o governo da África do Sul, desde que seja um bom negócio para ele, claro.
Ou seja, o caso ainda deve render acaloradas discussões entre ingleses e sul-africanos, cada um defendendo o seu ponto de vista e interesses.
Não existe acordo fácil no nebuloso mundo dos caçadores de tesouros.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor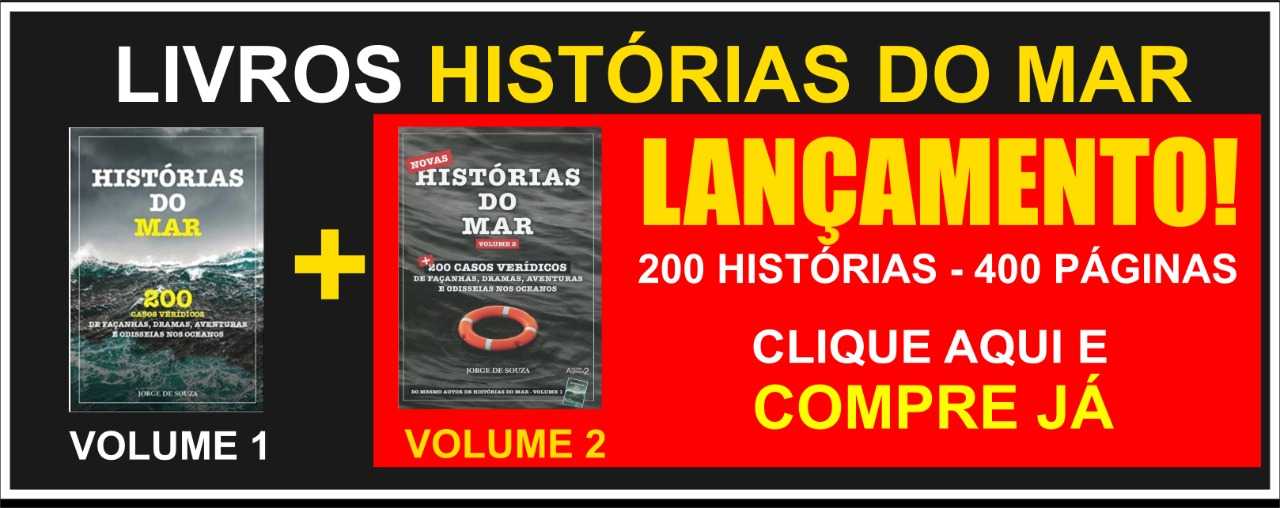

por Jorge de Souza | maio 24, 2023
Era uma vez um náufrago que foi dar numa ilha deserta e ali ficou vivendo sozinho por muitos anos.
Esta história lhe parece familiar?
Pois deve ser mesmo, já que Robinson Crusoé, escrito por Daniel Defoe, no início do século XVIII, é um dos livros de aventura mais famosos de todos os tempos.
O que, no entanto, poucos sabem é que, embora Robinson Crusoé seja uma obra de ficção, sua história foi baseada num caso real: a sobrevivência, por alguns anos, do marinheiro escocês Alexander Selkirk (nascido Selcraig) numa ilha deserta na costa do Chile, pouco antes de Defoe ter dado vida ao seu famoso personagem.
Nem tudo foi exatamente igual na transcrição da vida real para a ficção, é verdade.
Enquanto a fictícia ilha de Crusoé ficava no Caribe, a de Selkirk era no Pacífico, a cerca de 500 quilômetros da costa chilena.
Se, no livro, o náufrago contou com a companhia de um nativo batizado de Sexta-Feira, o ermitão verdadeiro dividiu sua solidão apenas com gatos e cabras.
E, se nas páginas de Defoe, Crusoé foi parar na ilha por conta de um naufrágio, na vida real Selkirk tornou-se uma espécie de náufrago por opção, ao escolher o autoexílio na ilha, após decidir abandonar o barco no qual navegava, por temer pela segurança da nau — que, por fim, acabaria mesmo indo a pique.
Por outro lado, tanto Crusoé quanto Selkirk tiveram o mesmo sentimento em relação à vida que levavam na ilha.
Depois de terem sido resgatados e levados de volta à civilização, sentiram falta da sua ilha solitária e trataram de dar um jeito de voltar para lá.
Na ficção, Crusoé voltou.
Mas Selkirk morreu sem ter realizado o sonho.
E anônimo – apesar de sua façanha ter inspirado a criação do famoso livro e personagem.
Tudo começou em 1703, quando um jovem escocês chamado Alexander Selcraig conheceu, na Inglaterra, o capitão-corsário William Dampier, que estava preparando uma expedição com dois navios para atacar os espanhóis na costa oeste da América do Sul.
Selcraig, que havia brigado com a família, resolveu se alistar – mas com o sobrenome alterado para Selkirk, para não ser reconhecido.
Oito meses depois, a expedição alcançou o Cabo Horn, no extremo sul do continente sul-americano e, em seguida, chegou à então chamada ilha de Más a Tierra, onde os navios pararam para reabastecer de água e carne de cabra.
Más a Tierra (mais tarde rebatizada com o nome do seu descobridor, Juan Fernandes, e hoje renomeada Robinson Crusoé em homenagem ao seu mais famoso ocupante) era um conglomerado desabitado de montanhas verdejantes, com fartura de água doce e pequenos animais.
A frota passou dois dias ali e Selkirk adorou o lugar.
Até que velas inimigas surgiram no horizonte e eles tiveram que partir.
Mas a boa imagem da ilha ficou na sua mente.
Tempos depois, ele começou a ter pesadelos, nos quais sempre via o seu navio naufragar.
Impressionado, resolveu abandonar o barco na primeira oportunidade.
E lembrou-se de Más a Tierra, por onde Dampier passaria na volta.
Selkirk, que já tinha tido vários problemas de relacionamento a bordo (além da tal premonição de que a embarcação afundaria) decidiu que desembarcaria e ficaria lá.
E assim o fez.
O capitão não fez objeção a deixá-lo na ilha, apesar do risco de o escocês ser capturado pelos espanhóis, a quem pertenciam àquelas águas.
E como Selkirk não estava sendo punido nem deserdado, foi autorizado que desembarcasse com alguns pertences, como uma faca, uma arma e uma Bíblia.
Quando, porém, o bote o deixou na praia deserta e deu meia-volta, o marinheiro se arrependeu e gritou, dizendo que queria voltar ao navio, o que foi negado pelo capitão – que, no fundo, gostou da ideia de se livrar daquele encrenqueiro a bordo.
Desolado, Selkirk ficou sentado na praia, vendo o barco ir embora.
Era outubro de 1704 e começava ali o seu martírio de quatro anos à espera de algum navio que o tirasse daquela ilha deserta e solitária.
Durante os primeiros 18 meses, Selkirk morou na própria praia, na vã esperança de assim avistar mais facilmente algum barco.
Não apareceu nenhum e ele decidiu mudar-se para uma caverna, nas montanhas, onde começou, aos poucos, a retomar o gosto inicial pela ilha.
Ali, costurou roupas com a pele das cabras que caçava, aprendeu a fazer fogo friccionando gravetos, cozinhava lagostas e mariscos que apanhava em abundância na praia e passou a viver muito bem, apesar da solidão.
Para não perder contato com a voz humana, lia em voz alta trechos da Bíblia para os animais que domesticara – de certa forma, Selkirk transformara o seu infortúnio em um pequeno paraíso.
Quando terminou a munição de sua arma, aprendeu a caçar com as próprias mãos.
Com o tempo, tornou-se bem mais ágil do que os próprios animais.
Passou, também, a subir todos os dias até um mirante no topo da ilha, onde passava horas à procura de velas no horizonte.
Viu algumas, mas todas de navios inimigos espanhóis, que, prudentemente, decidiu evitar.
Até que, um dia, dois navios diferentes surgiram próximos à ilha.
Eram ingleses, como ele.
Selkirk acendeu uma fogueira para chamar a atenção dos barcos, mas os tripulantes acharam que eram sentinelas espanhóis avisando sobre a chegada do inimigo e quase abriram fogo contra a ilha.
Só na manhã seguinte, ao se aproximaram com cautela da ilha, eles deram de cara com um homem barbudo e coberto de peles, que mais parecia um bicho e gritava grunhidos de felicidade.
Para Selkirk era o fim da sua estadia solitária na ilha.
O marinheiro foi levado a bordo e ali reencontrou um velho conhecido: o mesmo capitão Dampier que o embarcara pela primeira vez – por coincidência, piloto de um dos navios.
Foi imediatamente reempossado como parte da tripulação, e logo nomeado capitão de um dos navios espanhóis capturados.
Através dos outros marinheiros, Selkirk ficou sabendo que sua premonição de quatro anos antes se confirmara: o navio no qual ele navegava quando optou pelo seu exílio, havia de fato naufragado, logo após deixá-lo na ilha.
Mas sua sorte maior ainda estava por vir.
Na costa mexicana, Selkirk capturou um galeão espanhol repleto de ouro, prata e preciosidades e isso o tornou rico.
E foi como um homem poderoso que ele retornou a Inglaterra, em outubro de 1711.
No entanto, apesar de toda a riqueza, Selkirk passou a levar uma vida reclusa e amargurada na sua volta à Escócia.
Não raro, saia de casa e ia dormir nas montanhas, sem sequer vestir roupas apropriadas – ele sentia saudades da sua ilha solitária…
Suportou isso por nove anos, até que decidiu alistar-se na Marinha e voltar para o mar.
Seu objetivo era retornar àquela ilha, o que, contudo, jamais conseguiu.
Em 1721, foi designado para uma viagem à costa da África, onde contraiu uma febre tropical e morreu a bordo, sem sequer saber que, meses antes, baseado no relato que ouvira de um dos tripulantes daquela primeira viagem de Selkirk, o escritor Daniel Defoe escrevera o que viria a ser um dos maiores clássicos da história: Robinson Crusoé, o náufrago que transformara sua ilha-presídio em paraíso.
E foi assim que Selkirk se tornou universalmente famoso – só que com outro nome.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor
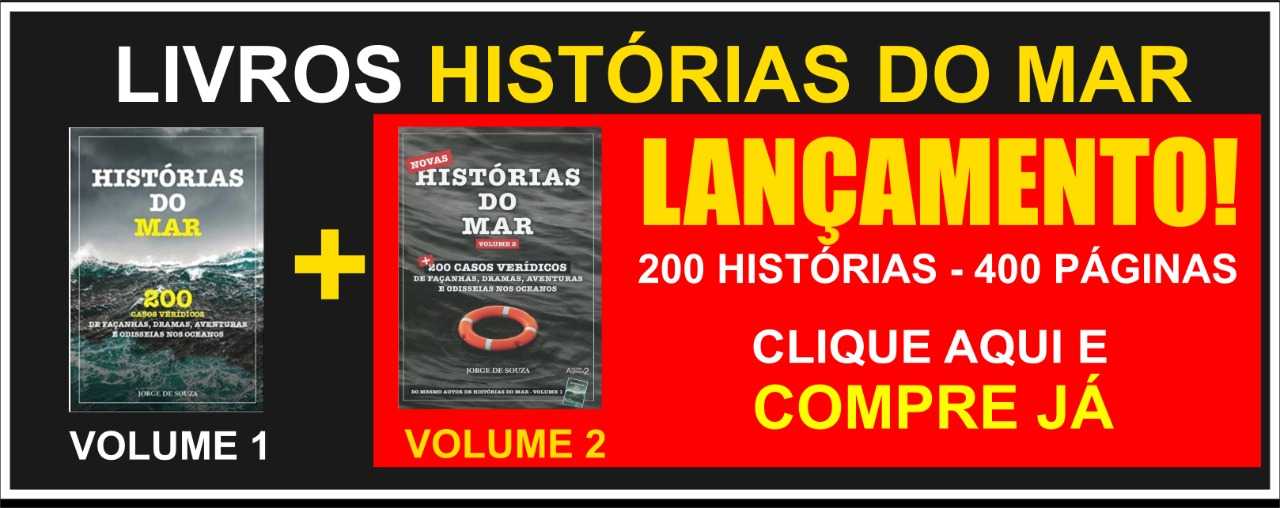

por Jorge de Souza | maio 17, 2023
Até hoje, os poucos visitantes da ilha de Tobago, entre a América do Sul e o Caribe, costumam ficar intrigados quando chegam à pequena comunidade pesqueira de Lambeau e dão de cara com um grande veleiro, visivelmente abandonado, na areia da praia.
O estado do barco é lastimável.
O casco do outrora bonito barco, que um dia fora imaculadamente branco, está áspero, encardido e repleto de manchas, os vidros de todas as suas janelas estão quebrados, o mato da beira da praia já o envolve praticamente por completo, e, dentro da cabine, não resta um só equipamento ou mobiliário.
O mastro ainda resiste em pé.
Mas falta-lhe a quilha, componente tão fundamental em um veleiro quanto as velas – que também não existem mais.
Na proa, contudo, ainda é possível ler claramente o nome do barco: Vagant.
E, na popa, o porto de registro da embarcação: Gdansky, uma cidade portuária da Polonia.
Se fosse novo, aquele barco valeria cerca de 1 milhão de dólares.
E, mesmo naquele estado, ainda vale algum dinheiro.
No entanto, há anos, aquele grande veleiro, de 50 pés de comprimento, segue abandonado naquela esquecida vila de pescadores, apodrecendo na beira da praia, e seu proprietário nunca nada fez para resgatá-lo.
Por um bom motivo: ele desapareceu no mar.
E seus familiares, traumatizados com a tragédia, jamais se interessaram em resgatar o barco.
No final de 2017, após uma vida inteira dedicada ao trabalho e à família, o polonês aposentado Stanislaw Dabrowny, então com 74 anos de idade, começou, finalmente, a colocar em prática o sonho de sua vida: dar a volta ao mundo velejando.
Na companhia apenas da esposa, Elizabeth, uma pacata dona de casa de 67 anos, ele partiu das Ilhas Canárias, com destino ao Caribe, a bordo do veleiro que comprara e batizara com um nome que definia bem a nova fase da vida que iria começar: Vagant – “Vagabundo”, em inglês.
A travessia do Atlântico seria a primeira jornada daquela grande viagem, e transcorreu tranquila, sem nenhum imprevisto ou sobressalto.
Até que, 19 dias depois da partida, na madrugada de 21 de novembro de 2017, quando o casal navegava a cerca de 450 milhas da ilha de Barbados, Dabrowny precisou desvencilhar uma das velas, que enroscara no mastro.
Ele então caminhou até a proa, e sob o olhar atento da esposa, que nada entendia de barcos, tentou soltar a vela.
Mas uma das pontas caiu no mar, encharcou e ficou pesada demais para o septuagenário manuseá-la. Dabrowny, no entanto, não desistiu da empreitada, e continuou tentando puxar a vela de volta para o convés, apesar da apreensão da esposa, que só pensava por que o marido não largava aquela vela na água e pronto.
Não deu tempo de dizer isso.
Com o esforço, um tanto demasiado para sua idade avançada, Dabrowny perdeu o equilíbrio, escorregou no convés e desabou no mar.
Era noite, e ele sequer vestia um colete salva-vidas.
Era o fim para o velejador polonês.
O barco seguiu avançando de maneira autônoma, empurrado pelas velas restantes e pelo piloto automático, equipamento que sua esposa, Elizabeth, tampouco sabia como desligar.
Aterrorizada, ela se viu sozinha a bordo de um barco que seguia navegando sozinho, sem saber como manejá-lo, muito menos como dar meia-volta para socorrer o marido.
O máximo que Elizabeth conseguiu fazer foi jogar na água uma boia e uma vela que jazia dobrada no convés do barco, na esperança de que o marido conseguisse agarrar um dos objetos, e ficasse flutuando, enquanto ela tentava deter o avanço do barco – ambas ações em vão.
Logo, Dabrowny foi ficando cada vez mais distante, até que sumiu completamente – e para sempre – dos olhos de Elizabeth, na escuridão do mar.
Seu corpo jamais foi encontrado.
Só um bom tempo após o marido ter caído no mar, Elizabeth conseguiu desligar o piloto automático e deter o avanço do barco – para, em seguida, descobrir que não sabia como manejá-lo, a fim retornar ao local da queda.
Ficou, então, boiando no mar, sozinha, à deriva e desesperada.
Elizabeth também logo descobriu que não sabia como manusear o telefone via satélite que o barco possuía, que era usado com frequência pelo marido – e só por ele -, para se comunicar com os filhos do casal, na Polônia.
Ou seja, ela também não tinha como pedir socorro.
E estava longe demais de qualquer ilha para que o rádio VHF funcionasse, embora ela tampouco soubesse como operá-lo.
Só dois dias depois, quando até a energia elétrica do barco já havia se esgotado, obrigando Elizabeth a passar as noites no escuro (já que, de tempos em tempos, era preciso ligar o motor, a fim de recarregar as baterias, mas ela também não sabia disso), é que a polonesa conseguiu fazer funcionar o telefone via-satélite.
E, finalmente, ligou para a filha, na Polônia.
A ligação foi fulminante, durou apenas alguns segundos, não deu tempo de dizer nada (até porque Elizabeth só gritava, desesperada), e logo caiu, porque, sem uma fonte de energia para recarregar as baterias do barco, esgotara-se, também, a carga do telefone móvel.
Mas a filha do casal teve certeza de que algo errado havia acontecido, porque era sempre o pai, e não a mãe, que ligava para ela.
Mesmo sem saber o que poderia ter ocorrido, a filha acionou a autoridade marítima da Polônia, que, após rastrear a origem da ligação do telefone, fez contato com a base de resgates marítimos da ilha de Martinica, no Caribe, que, por sua vez, despachou um avião de reconhecimento para a região.
Logo, o veleiro foi avistado, e os navios das proximidades acionados, a fim de executarem o resgate.
Cinco dias após a tragédia, um grande petroleiro com bandeira da Libéria, que seguia dos Estados Unidos para o Brasil, encostou ao lado do Vagant, e resgatou Elizabeth, já quase em estado de choque.
Só então o mundo – e os filhos de Dabrowny – ficaram sabendo do trágico destino do polonês, que queria realizar o sonho da sua vida, mas não passou da primeira travessia.
A bordo do navio que a resgatou, Elizabeth foi levada até o porto de Santos, no litoral brasileiro, onde desembarcou, dias depois.
Mas o veleiro dos Dabrowny, não.
Como determinam as regras internacionais de resgates marítimos, apenas a ocupante do barco foi resgatada – não o veleiro, que foi abandonado no mar, para que, com o tempo, a natureza se encarregasse de afundá-lo.
Mas não foi o que aconteceu.
Dias depois, quando saiam para buscar suas redes no mar, três pescadores tobaguenses de Lambeau avistaram um bonito barco, sem ninguém a bordo, espetado nos recifes de coral, bem diante da praia: era o Vagant, o veleiro do capitão polonês que o mar levou.
Sem saber da história que havia por trás daquele misterioso barco sem ninguém a bordo, os pescadores rebocaram o veleiro, já danificado pela perda da quilha no choque com a bancada de corais, avisaram as autoridades, e o deixaram na praia – onde está até hoje, anos depois, sem que ninguém da família tenha demonstrado nenhum interesse em buscá-lo, por conta das péssimas lembranças que aquele barco lhes traz.
Muito menos Elizabeth, que, até hoje, é atormentada por pesadelos nos quais sempre ouve Dabrowny gritando “volte! volte!”, e por não ter feito nada para evitar a morte do marido, apenas porque não sabia o que fazer.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | maio 12, 2023
Na década de 1960, com o intuito de utilizá-lo nas filmagens da recriação do motim mais famoso da História, o do navio inglês HMS Bounty, cuja tripulação se amotinou contra o comandante William Bligh, em abril de 1789, gerando um dos mais famosos episódios já ocorridos nos sete mares, os estúdios de cinema de Hollywood encomendaram uma réplica fiel daquele famoso barco.
O filme foi um sucesso, arrecadou milhões em bilheterias e tornou a réplica do Bounty uma estrela cinematográfica, tal o seu grau de fidedignidade com o barco original.
Mas, após as filmagens, ele foi vendido e passou a fazer cruzeiros recreativos, entre os Estados Unidos e o Caribe, sob o comando do experiente capitão Robin Wallbridge, que conhecia cada parafuso daquela réplica, porque ajudara a construí-la.
Por isso, todos acreditaram que estariam em boas mãos quando, em 21 de outubro de 2012, o capitão Wallbridge anunciou que partiria com o barco de Connecticut para a Florida, apesar do furacão Sandy, que se aproximava da costa Leste americana.
“Se o capitão decidiu partir é porque sabe que está tudo sob controle”, pensaram os demais 15 tripulantes do barco, que, mesmo tendo a opção de não embarcar, se uniram a Wallbridge naquela viagem.
O plano de Wallbridge era avançar velozmente para o alto-mar e contornar o furacão, daí a pressa em partir.
Mas, quatro dias depois, a super-tormenta mudou repentinamente de rumo e colheu o grupo ao largo da Carolina do Norte, num trecho morbidamente apelidado de “Cemitério do Atlântico”.
Logo, as bombas de porão não deram conta do volume de água que entrava no casco e o ex-Bounty do cinema afundou fulminantemente, deixando todos os seus ocupantes na água, a mercê das ondas monstruosas e desencadeando uma das maiores operações de busca e salvamento no mar da História recente da Guarda Costeira americana, em meio a uma sequência de tempestades assustadoras.
Ao final da operação, o saldo não deixou de ser trágico.
Dos 16 ocupantes do cinematográfico barco, 14 foram resgatados com vida.
Mas uma tripulante morreu, e, ironicamente, só o capitão Wallbridge desapareceu – e seu corpo jamais foi encontrado.
A imprudência do comandante do barco custou-lhe a vida.
De certa forma, desaparecer no mar não deixou de ser outra ironia contra Wallbridge, que sempre pregou uma máxima que só ele acreditava.
Dizia que “um barco sempre estaria mais seguro no mar do que parado em um porto”.
Naquele 25 de outubro de 2012, a garbosa réplica do HMS Bounty tratou de contradizê-lo da pior maneira possível.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | maio 9, 2023
Os Grandes Lagos Americanos, entre os Estados Unidos e o Canadá, não têm esse nome por acaso.
Juntos, eles concentram o maior volume de água doce represada do planeta e, nos dias de tempestades, nem de longe lembram a placidez habitual de um lago.
Ao contrário, por ficarem em uma região de clima inclemente no inverno, com ventos terríveis e temperaturas congelantes, formam um dos mais duros cenários para se navegar com um barco.
Mesmo os grandes navios.
Como era o Edmund Fitzgerald.
Quando foi lançado, em junho de 1958, o cargueiro americano era o maior (e, por consequência, considerado o mais seguro) navio que já havia singrado as cinco gigantescas porções de água, que, interligadas, dão forma aos Grandes Lagos.
Passava dos 220 metros de comprimento e tinha casco de aço com uma polegada de espessura – duas precauções necessárias frente às centenas de naufrágios que já haviam ocorrido naquelas águas.
O Edmund Fitzgerald fora construído para enfrentar as piores condições de navegação.
Podia enfrentar ventos com a intensidade de furacões e seu curioso casco, bem alto e com a casaria dividida em duas partes – a ponte de comando bem na proa e todo o restante na popa, com enormes paióis para carga ao centro – oferecia uma proteção extra contra as ondas.
Entre as pessoas que acreditavam que nada podia afetar o poderoso cargueiro estava o seu próprio comandante, o experiente capitão americano Ernest McSorley.
Com 63 anos de idade e mais de 700 travessias realizadas com o Edmund Fitzgerald, ele confiava cegamente no seu barco.
Por isso, não temia em forçá-lo.
Mesmo sob as piores condições, o navio do comandante McSorley sempre se mostrava confiável.
Não havia, portanto, nenhum motivo para preocupações antes daquela rotineira travessia entre o porto de Superior e a cidade de Detroit, com uma carga de 26 000 toneladas de minério, que seguiam dentro dos paióis centrais, tampados com placas de aço presas por travas rosqueáveis.
Nem mesmo o fato de ser início do inverno, época já sujeita a tempestades, incomodava o capitão McSorley, cuja tripulação, naquela viagem, somava 26 pessoas.
No dia da partida, 9 de novembro de 1975, o clima era até agradável para os padrões da região.
McSorley já havia checado a previsão do tempo, e, embora houvesse uma mudança meteorológica a caminho, ainda assim aquela travessia do Lago Superior, o maior de todos os lagos, prometia ser tranquila.
A previsão indicava ventos com intensidades entre 8 e 16 nós, aumentando, depois, para 23 – ainda assim, bem abaixo do que o Edmund Fitzgerald era capaz de enfrentar.
Só que os números verdadeiros seriam outros.
E bem piores do que os previstos.
No início da tarde do dia seguinte, quando o Edmund Fitzgerald já navegava longe, sendo acompanhado a certa distância pelo também cargueiro Arthur M. Anderson, os barômetros despencaram e começou a nevar forte – sinal de que uma tempestade se aproximava.
Não demorou muito e a visibilidade caiu para míseros metros, ao mesmo tempo em que os ventos se tornaram intensos, erguendo grandes ondas no gigantesco lago.
As ondas passaram a varrer a superfície do lago com incrível velocidade e formavam abismos entre suas cristas.
A bordo do Edmund Fitzgerald a tripulação se desdobrava para controlar as rotações do hélice, para que, quando a popa do navio saísse fora d´água, o giro do motor não ultrapassasse o limite máximo.
Também era preciso evitar que o casco ficasse suspenso no ar, no vão entre duas ondas, porque isso poderia comprometê-lo, já que era bem comprido.
Mesmo para um navio de grande porte, navegar sob aquelas condições não era nada agradável.
Por isso, o capitão McSorley chamou o comandante do Arthur M. Anderson pelo rádio, e propôs que ambos se abrigassem atrás de uma ilha que havia não muito distante de onde estavam, o que foi aceito de imediato.
A ilha oferecia boa proteção contra os ventos daquele quadrante.
Mas, para chegar lá, era preciso, primeiro, atravessar um famoso e perigoso estreito, onde a profundidade não passava dos doze metros – daí o seu nome: Six (Seis) Fathom, uma antiga forma de medida.
Era, no entanto, o bastante para o Edmund Fitzgerald cruzar o estreito sem maiores problemas, como já havia feito diversas vezes.
O problema é que, naquele dia, as ondas estavam tão altas que sugavam periodicamente as águas do estreito, tornando-o subitamente bem mais raso.
E foi em um destes momentos que o fundo do casco do Edmund Fitzgerald tocou as rochas pontiagudas que haviam submersas no fundo do estreito, abrindo uma fenda, por onde, imediatamente, começou a entrar água.
Muita água.
Às 15h30 daquela tempestuosa tarde, o capitão McSorley chamou novamente o comandante do Arthur M. Anderson, algumas milhas atrás, para informar o ocorrido e avisar que também havia perdido duas tampas de aço dos paióis, o que tornava a situação ainda mais crítica, porque a água estava entrando por baixo e, também, por cima do casco.
E completou dizendo que, apesar da tempestade, iria seguir em frente, agora à toda velocidade, para tentar chegar o mais rápido possível a localidade de Whitefish, nas margens do lago, a apenas a 18 milhas de distância.
Mas uma perversa combinação de infortúnios fez com que o Edmund Fitzgerald jamais chegasse lá.
Meia hora depois daquele contato, o capitão McSorley voltou a chamar o colega do outro navio, relatando, agora, outro problema: o radar do Edmund Fitzgerald havia parado de funcionar – e a má visibilidade causada pela tempestade não permitia enxergar nada à frente.
Ele, então, pediu que o Arthur M. Anderson se aproximasse, a fim de compartilhar as informações do seu radar.
Mas, para isso, precisou diminuir a marcha, já que o alcance do radar do outro navio era limitado a pouco mais de oito milhas.
Navegando mais lentamente, a inundação do Edmund Fitzgerald só fez aumentar de intensidade.
Mesmo usando todas as bombas do casco, capazes de expelir a colossal quantidade de 28 toneladas de água por minuto, o casco do Edmund Fitzgerald foi ficando cada vez mais cheio d´água.
Ainda assim, no entanto, seguiu avançando, às cegas e lentamente, sob o bombardeio das ondas, enquanto rezava pela aproximação do outro navio, porque sem o compartilhamento do radar, McSorley não conseguiria achar o porto de Whitefish.
A agonia durou até o cair da noite.
E, junto com ela, veio o pior de tudo.
Às 19h15, logo após voltar a se comunicar com o cargueiro avariado, naquela que viria a se tornar a última mensagem enviada pelo Edmund Fitzgerald (na qual o comandante McSorley disse apenas que “estavam se segurando como podiam”), o capitão do Arthur M. Anderson sentiu o seu navio se erguer subitamente no ar, como se algo gigantesco tivesse passado por baixo dele.
Em seguida, sentiu isso de novo.
Eram duas ondas monstruosas que haviam passado pelo seu navio, bem maiores do que as habituais.
As duas montanhas d´água, fora dos padrões mesmo para uma região famosa pela intensidade de suas tormentas, nada causaram ao Arthur M. Anderson, além de um apavorante frio na espinha dos seus ocupantes.
Mas deixaram um rastro de iminente tragédia, porque avançaram justamente na direção onde o Edmund Fitzgerald tentava, a duras penas, se manter flutuando.
O resultado, ao que tudo indica, não poderia ter sido mais trágico: em questão de minutos, o Edmund Fitzgerald sumiu da tela do radar do Arthur M. Anderson, muito possivelmente após ser engolido inteiro pelas águas em convulsão do lago.
Era o fim do maior navio dos Grandes Lagos e início de um enigma que jamais teve uma resposta: o que fez o Edmund Fitzgerald afundar subitamente, decretando a morte de seus 26 tripulantes?
O motivo mais provável é que tenham sido aquelas duas ondas gigantescas, em sequência – a primeira teria erguido a popa do navio a níveis absurdos, e a segunda acelerado a descida do cargueiro de encontro a primeira, mergulhando o navio no lago feito um míssel.
O impacto com a onda também teria partido o comprido casco ao meio, fazendo com que o cargueiro descesse para o fundo dividido em duas partes – e a da popa, onde estava a maior parte da tripulação, virada ao contrário, o que pode ter feito com que alguns tripulantes tenham tido uma morte lenta e sufocante.
Nenhum pedido de socorro foi enviado.
Certamente, porque não deu tempo.
A busca inicial por sobreviventes foi realizada pelo próprio Arthur M. Anderson. Mas não trouxe resultados.
Logo, a despeito do mau tempo, chegaram outros navios, convocados pelo comandante do cargueiro.
E, também, nada foi encontrado.
Só quatro dias mais tarde, um avião da Marinha dos Estados Unidos, equipado com um aparelho detector de anomalias magnéticas submersas, encontrou as duas partes do Edmund Fitzgerald, separadas por mais de 70 metros de distância, a 160 metros de profundidade.
Quando isso aconteceu, as teorias sobre o naufrágio mais famoso da história dos Grandes Lagos já haviam se multiplicado e permitido todo tipo de especulação.
Uma delas pregava que o navio, de tão grande e comprido, havia sofrido um rompimento estrutural causado pelo fato de a junção das placas de aço do seu casco terem sido feitas com solda, e não rebites, o que o teria tornado excessivamente rígido.
Outra tese defendia que algumas tampas dos compartimentos de carga haviam se soltado, permitindo a inundação dos compartimentos de carga, como já havia acontecido com dois deles no início da travessia, pela má fixação das travas, que não teriam sido rosqueadas até o fim – como o comandante do Edmund Fitzgerald contara ao seu colega do Arthur M. Anderson pelo rádio.
E até o sabido hábito do capitão McSorley de forçar o seu navio ao máximo, por confiar na resistência dele, foi usado para acusá-lo, postumamente, de negligência irresponsável.
No entanto, a tese mais aceita sempre foi a das duas ondas em sequência, como relatado pelo comandante do Arthur M. Anderson, que jamais se perdoou por não ter chegado a tempo ao local onde o Edmund Fitzgerald o aguardava, navegando em ritmo lento – o que, certamente, também contribuiu para a tragédia, porque impediu o navio de chegar a margem antes de ser atingido pelas ondas.
Oficialmente, porém, a causa do naufrágio jamais foi decretada, já que a única parte resgatada do navio foi o seu sino, hoje principal peça do Museu dos Naufrágios dos Grandes Lagos, em Whitefish, no estado de Michigan – mesmo local onde o Edmund Fitzgerald tentou desesperadamente chegar naquela noite de 1975.
E onde, desde então, todo dia 10 de novembro, um farol emite melancólicos fachos de luzes em direção ao horizonte, em homenagem às vítimas da mais famosa tragédia daquele conjunto de lagos, que, de plácidos, não têm nada.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor Foto Wikipedia
Foto Wikipedia




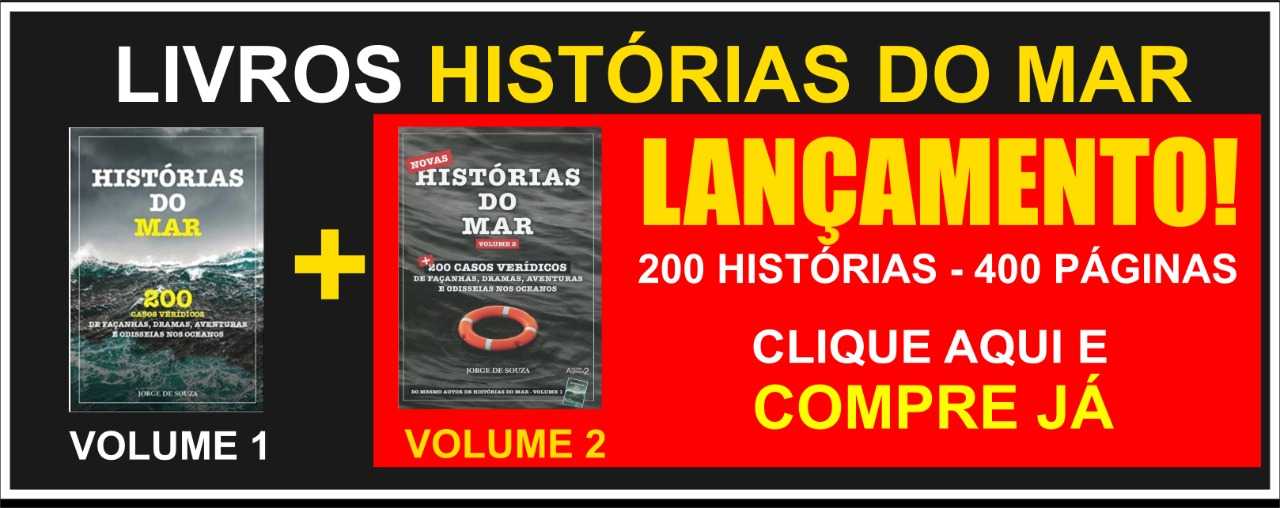




Comentários