
por Jorge de Souza | maio 27, 2021
Há 12 semanas, um mistério intriga os moradores de St. John, uma das Ilhas Virgens Americanas, no Caribe: o que aconteceu com a inglesa Sarm Joan Lillian Heslop, uma ex-comissária aérea, de 41 anos, que aparentemente desapareceu do barco onde viva com o namorado, o americano Ryan Bane?
A última notícia que se teve dela foi na madrugada do dia 8 de março, quando o seu namorado ligou para a Guarda Costeira das Ilhas Virgens e para o serviço de emergências dos Estados Unidos, dizendo que havia acordado e constatado que Sarm havia “desaparecido do barco” no qual moravam, então ancorado a menos de 100 metros da praia de Frank Bay, um ponto bastante frequentado pelos veleiros particulares naquela parte do Caribe.
Isso teria ocorrido às 02h30 da madrugada.
Na manhã seguinte, a Guarda Costeira esteve com Bane, mas se limitou a verificar superficialmente os equipamentos de segurança do barco e a fazer uma busca no mar da região – sem nada encontrar.
Estranhamente, porém, Bane só relatou o fato à Polícia da ilha às 11h46 daquele dia, quase dez horas depois do suposto sumiço da namorada.
Por que tamanha demora para comunicar o desaparecimento da companheira à Polícia é a principal – mas não única – pergunta ainda sem resposta neste estranho caso.
E a Polícia local pouco tem feito para esclarecer os fatos.
De acordo com o que Bane, de 44 anos, disse a Polícia, ao ligar para a delegacia no final daquela manhã, o casal havia ido dormir por volta das 22h00, após sair para jantar em terra firme, e ao acordar, no meio da madrugada, ele deu por falta de Sarm a bordo.
“Acho que ela caiu no mar”, disse o americano pelo telefone à Polícia, sem maiores detalhes.
Segundo ele, todos os pertences da namorada, inclusive o celular e passaporte dela, continuavam no barco, bem como o bote de apoio, o que, ao menos a princípio, descartava a hipótese de ela ter fugido enquanto ele dormia – embora isso pudesse ter sido feito à nado, já que eles estavam ancorados bem próximos à praia.
Mas por que ela teria fugido, se, também segundo o namorado, não tinham tido nenhuma briga ou discussão?
“A Sarm sempre foi uma ótima nadadora”, disse, em seguida, uma amiga da inglesa desaparecida. “Mas não imagino por que ela fugiria, muito menos a nado”.
Após o tardio comunicado de Bane, a Polícia local, com ajuda de mergulhadores, donos de outros barcos e até um helicóptero, iniciou as buscas no mar da região, sem também nada encontrar.
Mas, desde então, o namorado tem sistematicamente negado permissão para que a Polícia faça uma perícia no barco, um dos procedimentos mais básicos nesses tipos de caso.
E isso só tem feito aumentar as especulações e teorias sobre o desaparecimento da velejadora inglesa.
Uma delas prega que Sarm Heslop teria simplesmente fugido para outra ilha, ainda que, aparentemente, sem nenhum motivo, já que o dono do restaurante onde eles jantaram na noite que antecedeu o desaparecimento disse não ter testemunhado nenhuma discussão ou desentendimento entre o casal.
E por que ela fugiria sem levar sequer os seus documentos e pertences?
Outra tese defende que a inglesa pode ter sido vítima de uma overdose de entorpecentes, já que o local onde estavam ancorados é particularmente famoso na região pela liberalidade dos seus frequentadores, o que teria levado o namorado a se livrar do corpo, para não ser incriminado pelo uso de drogas.
Ou que, por estar drogada, Sarm poderia ter sofrido uma queda involuntária no mar, e não ter tido condições de retornar sozinha ao barco, enquanto o namorado dormia.
Mas o que mais intriga, além das seguidas negativas de Bane a permitir a vistoria do barco, é o motivo pelo qual ele demorou tanto para comunicar o desaparecimento da namorada à Polícia.
Uma das hipóteses é que ele poderia ter gasto todo aquele tempo vasculhando ele próprio o mar da região, antes de acionar a Polícia.
Ou, talvez, que não estivesse em condições de fazer isso antes, por conta dos efeitos do que eventualmente eles tenham consumido na noite anterior.
Segundo a Guarda Costeira, que esteve com Ryan Bane na manhã seguinte ao suposto desaparecimento de Sarm, ele parecia estar ligeiramente embriagado, embora isso não configurasse nenhum delito, porque o seu barco estava parado.
Mas nem a eles Bane permitiu o acesso ao interior da cabine do barco, o que desmonta o seu argumento de não confiança na Polícia da ilha, e torna ainda mais latente a pergunta que, desde o início de março, todos fazem: o que aconteceu com Sarm Heslop?
Gosta desse tipo de história?
Leia 200 delas no livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço de R$ 49,00, com ENVIO GRÁTIS.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor


por Jorge de Souza | maio 21, 2021
O dinamarquês Peter Madsen sempre foi um homem estranho, engenhoso e irrequieto.
No início dos anos 2000, decidiu que construiria um foguete doméstico e quase concluiu a obra.
Só não o fez porque, no meio do caminho, mudou radicalmente de objetivo e passou a construir um submarino.
Em 2008, ele ficou pronto: o Nautilus, o maior submarino privado do mundo, com 18 metros de comprimento.
Madsen teve, então, os seus 15 minutos de fama.
Mas nada perto do que aconteceria com ele nove anos depois: um dos mais pavorosos crimes da história recente da Dinamarca – país que é um reino de paz e tranquilidade.
Em 10 de agosto de 2017, a jornalista sueca Kim Wall embarcou no submarino de Madsen, para fazer uma reportagem sobre o seu criativo engenho.
E nunca mais foi vista com vida.
Tudo o que restou da jornalista nas semanas seguintes foram macabros pedaços do seu corpo boiando no mar da Dinamarca dentro de sacos plásticos, que Madsen, após esquartejá-la, dentro do próprio submarino, tentou fazer com que afundassem, colocando pesos nas embalagens.
Primeiro surgiu o torso, sem cabeça nem membros, e com perfurações nas costas para que o ar retido dentro dos pulmões da vítima não o fizesse flutuar – além de diversos esfaqueamentos na genitália.
Depois, a cabeça e as pernas, seguida pelos dois braços.
Preso imediatamente, Madsen, a princípio, negou o crime, dizendo que havia desembarcado a jornalista no mesmo dia.
Mas, depois, pressionado, admitiu que ela havia morrido a bordo, mas por conta de um acidente com a escotilha de acesso do submarino, que havia caído sobre sua cabeça.
Mais tarde, ele mudou a versão do acidente para intoxicação por monóxido de carbono na cabine, enquanto pilotava o submarino no topo da torre.
Por fim, admitiu ter decapitado, esquartejado e atirado os restos da vítima ao mar – mas não a matado.
Claro que não convenceu ninguém.
A pavorosa história do genial (afinal, não é todo mundo que conseguiria construir um foguete e um submarino em casa), mas desequilibrado Madsen naquele dia incluiu ainda uma tentativa de suicídio, através do naufrágio proposital do próprio submarino.
Mas na última hora, após já ter aberto algumas válvulas do casco, ele se arrependeu do gesto e pediu socorro a Guarda Costeira dinamarquesa, que o resgatou – e, mais tarde, também ergueu o próprio submarino do fundo da baía de Koge, mas já sem nenhum sinal da jornalista.
Ao ser questionado sobre o motivo do naufrágio, Madsen respondeu com outra de suas mentiras: disse que, após desembarcar a jornalista num restaurante à beira-mar em Copenhague, enfrentou problemas nos tanques de lastro.
O que, de fato, aconteceu dentro daquele submarino (se violência sexual, sadismo, acidente seguido de ocultação de cadáver ou pura e simples execução, movida pela mente doentia de Madsen) só mesmo ele poderia dizer.
Mas não disse.
Nem mesmo após ser condenado a prisão perpétua, num julgamento que chocou a Dinamarca.
Já o Nautilus, depois de transformado em peça de processo criminal, acabou abandonado em um terreno da polícia de Copenhague, como única testemunha de um crime mais que bárbaro.
Gostou desta história?
Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, com preço promocional e ENVIO GRÁTIS
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor


por Jorge de Souza | maio 14, 2021
No início do século passado, a Marinha do Brasil era uma potência no continente sul-americano, pelos bons navios que possuía.
Um deles era o encouraçado São Paulo, de 20 000 toneladas, construído sob encomenda, na Inglaterra, e com um prestigioso histórico na corporação.
Logo na sua viagem inaugural, rumo ao Brasil, em 1910, coube a ele trazer o então presidente do país, Hermes da Fonseca, e, mais tarde, também os restos mortais do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina – além de ter participado da Revolta das Chibatas, movimento deflagrado pelos marinheiros contra o fim dos maus tratos e castigos físicos na Marinha Brasileira, e de ter atuado, como fortaleza flutuante na proteção ao porto de Recife, durante a Segunda Guerra Mundial.
No entanto, após quase meio século de serviços prestados, o então já defasado encouraçado estava obsoleto e ultrapassado.
Mas ainda em relativo bom estado, como mostrou sua última grande revisão, em 1948, quando foi colocado em dique seco e constatado que seu casco, de fundo duplo, permanecia intacto.
Como, no entanto, sua capacidade de navegação já estava limitada, o encouraçado São Paulo foi colocado à venda, e logo atraiu o interesse dos próprios ingleses, mas com outro objetivo: transformá-lo em sucata, já que nos anos pós-guerra a Europa vivia uma carência e escassez de aço.
O negócio foi fechado e ficou acertado que a empresa inglesa que comprara o navio enviaria dois rebocadores ao Brasil, para buscá-lo.
À Marinha do Brasil, que já vinha sucateando o encouraçado para manter funcionando as demais embarcações da corporação, restou apenas acabar de depenar o navio, retirando todos os seus equipamentos, inclusive portas estanques, caldeiras (que alimentavam a sua propulsão, ainda a vapor), e todos os armamentos, cujos vãos e orifícios no casco foram tapados com pranchas de madeira.
Mesmo assim, o serviço atrasou.
Quando dois rebocadores ingleses, o Bustler e Dexterous, chegaram ao Rio de Janeiro para recolher o navio, ele ainda não estava pronto para a sua derradeira viagem – e que seria a última de fato, porque o encouraçado São Paulo jamais chegaria à Inglaterra.
Com o passar dos dias, os comandantes dos dois rebocadores começaram a ficar aflitos com aquele atraso.
Eles pretendiam fazer a travessia, que prometia ser bem lenta, dado o tamanho da embarcação a ser rebocada, antes que começasse a temporada de tempestades de inverno no Atlântico Norte, o que geralmente acontecia a partir de novembro.
Sabiam também que não seria nada fácil rebocar um pesado encouraçado em mares agitados.
E passaram a pressionar os oficiais brasileiros encarregados da preparação do barco, estes sim habituados a um costumeiro atraso.
Até que, em 20 de setembro de 1951, bem mais tarde do que os comandantes ingleses desejavam, o encouraçado São Paulo ficou pronto e deixou o porto do Rio de Janeiro, puxado pelos dois rebocadores.
Dentro dele, iam oito tripulantes da equipe inglesa, encarregados de monitorar o comportamento do navio inerte durante a travessia.
As informações entre as equipes eram passadas através de um rádio portátil, já que o equipamento original do navio também havia sido retirado.
Por outro lado, foram embarcados dois pequenos barcos de apoio, coletes salva-vidas e duas dúzias de foguetes sinalizadores, para o caso de alguma emergência a bordo do navio a reboque.
Por muito pouco, a tripulação do São Paulo não ganhou também a companhia de uma família inglesa, pai, mãe e filho, desejosa de retornar ao seu país, mas sem recursos para comprar passagens.
Em troca da viagem, eles haviam proposto trabalhar a bordo, especialmente a mulher, que se ofereceu para a ser cozinheira do navio.
Mas, ao examinar o interior totalmente depenado do São Paulo, ela mesma mudou de ideia.
Foi a melhor decisão da sua vida, como ficaria tragicamente comprovado semanas depois.
O reboque do encouraçado foi feito através de dois longos e grossos cabos, cada um com 30 centímetros de espessura, e a velocidade do comboio, por questões de segurança, não passava dos cinco nós.
Tão lento que o comboio levou um mês e meio para atingir a metade do caminho, nas proximidades do arquipélago dos Açores.
E foi quando tudo aconteceu.
Até então, a viagem vinha sendo lenta, mas tranquila.
Mas, naquelas alturas do calendário, início de novembro, as condições climáticas no Atlântico Norte já haviam mudado bastante.
A suavidade do outono dera lugar às primeiras tempestades de inverno, e uma delas, bem mais forte que as anteriores, atingiu o comboio no início da tarde de 6 de novembro de 1951.
Rapidamente, a visibilidade foi piorando na mesma proporção em que as ondas aumentavam de tamanho.
E a operação de reboque foi ficando cada vez mais difícil, com o grande navio oscilando muito e dando apavorantes trancos nos cabos.
O São Paulo estava perto de ficar incontrolável.
No final da tarde daquele dia, quando já não era mais possível ver o encouraçado, por conta das altas ondas e da baixa visibilidade, os comandantes dos rebocadores fizeram contato, pelo rádio, com a tripulação do São Paulo, para saber como estava a situação a bordo.
Do navio a reboque, os oito homens relataram o desconforto gerado pela grande instabilidade do casco, comportamento que nem o enchimento dos tanques de lastro, para evitar que o navio balançasse excessivamente na viagem, conseguiu atenuar.
Foi a última vez que se teve notícias deles.
Em seguida, as condições de navegação pioraram ainda mais e os dois rebocadores passaram a ter extrema dificuldade em manter esticados os cabos que os atavam ao navio – sem falar no risco de uma colisão entre as embarcações.
Os trancos e solavancos eram apavorantes e começaram a causar danos em um dos rebocadores, o Dexterous.
Temendo o pior, o comandante do rebocador danificado mandou soltar o cabo do reboque.
Se não fizesse isso, havia o risco de o rebocador passar a ser puxado pelo encouraçado, em vez de puxá-lo.
E o resultado, muito provavelmente, seria o seu naufrágio.
Só que, ao soltar o seu cabo, toda a tensão foi transferida para o do outro rebocador – que, não suportou e rompeu.
Era o que faltava para selar o destino do encouraçado São Paulo.
Ele agora estava à deriva, descontrolado, entregue à própria sorte na tempestade e sem nenhum meio de propulsão capaz de permitir abordar as ondas com alguma segurança. Era o seu fim.
O que exatamente aconteceu, nunca se soube nem jamais será sabido – porque tudo desapareceu no mar.
Quase que instantaneamente, aquele grande e poderoso navio foi engolido pelas ondas, ao que tudo indica numa só talagada, sumindo da superfície como num passe de mágica, levando junto os seus oito infelizes ocupantes.
Quando o comandante do Dexterous pegou o rádio para avisar os colegas do encouraçado sobre a decisão de soltar o cabo, já não houve resposta do outro lado.
Mas ele só compreendeu o por que daquele silêncio quando o comandante do outro rebocador o avisou, também pelo rádio, que o seu cabo havia rompido.
A explicação, então, só poderia estar na pior das hipóteses: o encouraçado havia afundado. Imediatamente, o navio desapareceu dos radares dos dois rebocadores.
No mesmo instante, eles iniciariam as buscas, apesar do mar em fúria e do estado precário de um deles. Do Dexterous e do Bustler foram disparados foguetes, na esperança que os tripulantes do navio respondessem da mesma maneira, com os sinalizadores que os havia a bordo.
Mas não houve nenhuma resposta.
Os dois rebocadores passaram a noite navegando em círculos, buscando algum sinal ou vestígio do São Paulo na superfície.
Nada encontraram.
Nem mesmo uma simples rolha que pudesse ter escapado de afundar junto com o navio – talvez, porque, como o encouraçado havia sido totalmente depenado antes da viagem, não houvesse mesmo muito o que se desprender dele.
Com a ajuda de aviões das Forças Aéreas da Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, as buscas continuaram por mais uma semana.
Até que todos tiveram que admitir o improvável: mesmo tendo 17 compartimentos estanques, cujas funções eram justamente impedir naufrágios fulminantes, o encouraçado São Paulo havia sido tragado pelo mar, de uma só vez, como uma simples canoa.
O mais provável é que ele tenha adernado em demasia ao ser atingindo pelas ondas, após perder sua ligação com os rebocadores, e tombado, inundado, capotado e mergulhado.
Tudo isso em questão de minutos.
Mas, como um navio de 150 metros de comprimento poderia ter sido engolido inteiro em tão pouco tempo?
Para tentar responder esta pergunta, um inquérito foi instalado na Inglaterra e, três anos depois, o comandante do rebocador Dexterous foi levado a julgamento.
Pesava sobre ele a acusação de, ao tomar a decisão de soltar o cabo que atava o navio ao seu rebocador, ter entregue à própria sorte os oito tripulantes do São Paulo.
Os familiares das vítimas cobravam justiça e a investigação decidiu recuar no tempo, até quando o encouraçado ainda estava no Brasil, sendo preparado para a viagem.
Naquela ocasião, a decisão de extrair as portas estanques dos deques e tapar os orifícios dos armamentos no casco com meras placas de madeira chamou a atenção dos investigadores, que concluíram que as duas coisas poderiam ter contribuído para a inundação acelerada do navio.
Também deduziram que colaborou bastante para a tragédia o fato de a preparação do encouraçado ter atrasado, o que impediu que os comandantes dos rebocadores fizessem a travessia no período desejado, antes que começassem as tormentas de inverno, embora eles também tivessem falhado ao não adiar a viagem – o que, no entanto, traria sérios prejuízos financeiros a empresa que comprara o navio.
Quanto a decisão do comandante do Dexterous de soltar o cabo do reboque (que ele alegou só ter feito por temer o seu próprio naufrágio e por acreditar que um navio com aquele porte sobreviveria a tempestade, mesmo se ficasse à deriva), o júri não viu nada de irregular no procedimento e definiu que, “do contrário, a tragédia teria sido maior ainda”.
Por fim, o julgamento inocentou o comandante acusado e, depois de puxar as orelhas dos responsáveis brasileiros pela preparação do navio, concluiu que o que efetivamente levou o encouraçado ao naufrágio foi a sua incapacidade de realizar manobras num mar que exigia isso, acima de tudo.
Ninguém foi punido pela morte dos oito infelizes ocupantes do encouraçado São Paulo.
Nem lá, nem aqui.
Gosta desse tipo de história?
Leia 200 delas no livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço de R$ 49,00, com ENVIO GRÁTIS.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor


por Jorge de Souza | maio 7, 2021
Durante mais de 300 anos, a Inglaterra tentou provar a existência de uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico, através do Ártico, no topo do globo terrestre, hoje conhecida como Passagem Noroeste.
Mas, em 1845, após oito expedições anteriores terem fracassado na missão, o Almirantado inglês decidiu montar a maior e mais bem preparada frota já enviada para a região – uma expedição exploratória marítima como nunca se tinha visto até então.
Com isso, acreditavam os ingleses, o êxito era praticamente garantido.
A nova investida em busca daquele atalho marítimo que poderia mudar os rumos da navegação no mundo contava com dois supernavios para a época, o HMS Erebus e o HMS Terror, equipados com o que havia de mais moderno para navegar no gelo (proas blindadas com ferro, hélices retráteis, aquecedores a carvão nas cabines e motores iguais aos das locomotivas a vapor), e 128 oficiais e marinheiros sob o comando do explorador John Franklin, ex-governador da Tasmânia — que, no entanto, não fora a primeira opção do Almirantado para liderar a expedição, mas sim o único que aceitara o desafio de achar um caminho aonde nenhum homem jamais havia navegado.
E, sabendo de antemão que a expedição passaria todo o inverno presa pelo gelo do Ártico, os dois navios foram equipados com provisões suficientes para três anos a bordo. Incluindo uma novidade revolucionária: a comida enlatada.
Cheia de confiança e otimismo, a expedição partiu da Inglaterra em maio daquele ano, e, após uma escala na Groenlândia, zarpou, em 12 de julho, em busca do atalho gelado para o Pacífico, através do Ártico.
Mas nunca mais foi vista.
Durante quase uma década e meia depois, outras 15 equipes buscaram, em vão, notícias sobre aqueles homens.
Até que, em 1859, uma expedição patrocinada pela viúva de Franklin, e liderada pelo também explorador Francis McClintock, começou a desvendar o mistério.
Após sofrer o diabo em uma longa caminhada exploratória no frio congelante do Ártico, o segundo oficial da expedição, William Hobson, encontrou um marco de pedras empilhado sobre o gelo e, debaixo dele, uma carta do piloto do Terror, Francis Crozier, que narrava resumidamente o que havia acontecido com a trágica expedição inglesa. E deixava claro que o primeiro problema havia sido o próprio gelo.
Três meses após a partida do grupo da Groenlândia, teve início o congelante inverno do Ártico, o que, no entanto, já estava previsto.
Mas o que John Franklin, nem ninguém do Almirantado previra é que, no verão seguinte, o gelo não descongelaria por completo, impedindo assim os barcos de seguirem em frente. E veio mais um inverno, sem que eles conseguissem sair de onde estavam.
E, com ele, a necessidade de começar o racionamento dos suprimentos, como forma de economizar carvão, usado para tudo nos navios – até para aquecer a comida enlatada.
Estranhamente, junto com o escasseamento do carvão, os homens começaram a morrer, uns atrás dos outros.
De acordo com a carta escrita por Crozier, foram mais de 20 mortes em um curto período de tempo.
Até o próprio Franklin sucumbiu, de causa também ignorada, em junho de 1847.
Com a morte de Franklin, o próprio Crozier assumiu o comando da expedição e, diante daquele cenário desolador (os dois navios trancados pelo gelo, poucos suprimentos e as mortes misteriosas das tripulações se sucedendo), tomou uma decisão desesperada: abandonar os navios e partir, com todos os sobreviventes, em busca de socorro, na imensidão deserta e congelante do Ártico.
Em 22 de abril de 1848, o grupo abandonou a relativa proteção do Erebus e Terror, que permaneciam teimosamente atados ao gelo, e iniciou, a pé, uma marcha meio sem rumo até a civilização mais próxima, que eles imaginavam poder ser alguma comunidade de esquimós, a cerca de 1 000 quilômetros de distância.
Para poder atravessar os muitos trechos de gelo derretido no caminho, arrastavam uma dúzia de botes retirados dos navios, o que tornava a marcha ainda mais lenta, sofrida e difícil.
Partiram 105 homens. Nenhum deles chegou ao destino pretendido.
Após cerca de um décimo do caminho, vendo que boa parte dos seus homens estavam cada vez mais esgotados pelo esforço, pelo frio e pela fome, já que restava cada vez menos comida enlatada e carvão para cozinhá-la, Croziet tomou outra decisão: deixou os mais combalidos, com alguns suprimentos, junto a uma espécie de marco que construiu com pedras empilhadas, escreveu a tal carta contando o que havia acontecido com a expedição, e seguiu em frente, com um grupo menor, determinado a encontrar ajuda.
Mas, também, não foi longe.
Com menos homens para ajudar a arrastar os pesados barcos no gelo, sob um frio intenso e já praticamente sem comida, a caminhada se tornou ainda mais penosa.
E, gradativamente, os integrantes do grupo começaram a congelar, definhar e morrer.
Foi quando começou outro horror: o do canibalismo.
Na desesperada luta pela sobrevivência, cada companheiro morto passou a servir de alimento para os demais, na tentativa de que ao menos alguém sobrevivesse para buscar ajuda para os companheiros que ficaram para trás.
Mas, por fim, não sobrou ninguém.
Quando, 15 anos depois, William Hobson, da expedição de regaste montada pela viúva de Franklin, encontrou o tal marco de pedras, a carta deixada por Croziet e muitos corpos congelados ao redor de latas vazias de comida, é que a dramática história da fracassada expedição inglesa começou a ser desvendada.
E o principal motivo de tantas mortes (além da fome, do escorbuto e da tuberculose), descoberto: o botulismo, uma intoxicação causada pelo acondicionamento mal feito de alimentos enlatados – justamente a ”novidade” que prometia revolucionar aquela malfadada expedição.
Quando o racionamento de carvão limitou o aquecimento das refeições, o fogo parou de cumprir o papel de também eliminar os organismos daninhos contidos nas latas de comida, e as mortes começaram a acontecer.
E aceleraram ainda mais, depois, com os homens enfraquecidos acampados no gelo e sem carvão para aquecê-los. Mas a pior de todas as descobertas de Hobson ainda estava por vir.
Mais adiante, a não mais que 200 quilômetros de onde o grupo havia abandonado os navios, jaziam pilhas de ossos descarnados, muitos com marcas visíveis de cortes a faca, o que deixava claro perturbadoras provas de canibalismo entre os homens do segundo grupo de Croziet – inclusive ele próprio, ao que tudo indicava.
Os restos do macabro grupo jaziam a beira de um curso de água descongelada e salgada, que, mais tarde, ficaria provado, era a tão buscada ligação entre o Atlântico e o Pacífico – uma prova irrefutável de que a Passagem Noroeste existia de fato.
Crozier, mesmo se saber, chegou até ela.
Mas morreu sem os méritos do seu feito.
Com isso, o reconhecimento oficial do primeiro homem a atravessar de um oceano para o outro pelo topo do mundo acabou ficando para o norueguês Roald Amundsen, que, mais tarde, também conquistaria o Polo Sul.
Em 1906, 58 anos após o trágico final da expedição inglesa, Amundsen cruzou inteiramente a Passagem Noroeste, com apenas um pequeno barco e meia dúzia de homens.
A Inglaterra jamais engoliu isso.
Mas, para os ingleses, houve ao menos uma compensação.
Mais de um século e meio depois, em 2016, mergulhadores canadenses encontraram, no fundo do mar da atual Ilha Rei William, os dois navios da fatídica expedição de John Franklin.
Ambos estavam afundados na água gelada, mas em surpreendente bom estado, o que permitiu não só reconstituir com espantosa precisão o longo purgatório que aqueles homens passaram presos no gelo do Ártico, como atestou a qualidade e resistência dos barcos que os ingleses haviam construído para conquistar uma das últimas fronteiras marítimas do mundo.
Mas que resultou em um retumbante e trágico fracasso.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com DESCONTO DE 25% no preço dos dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor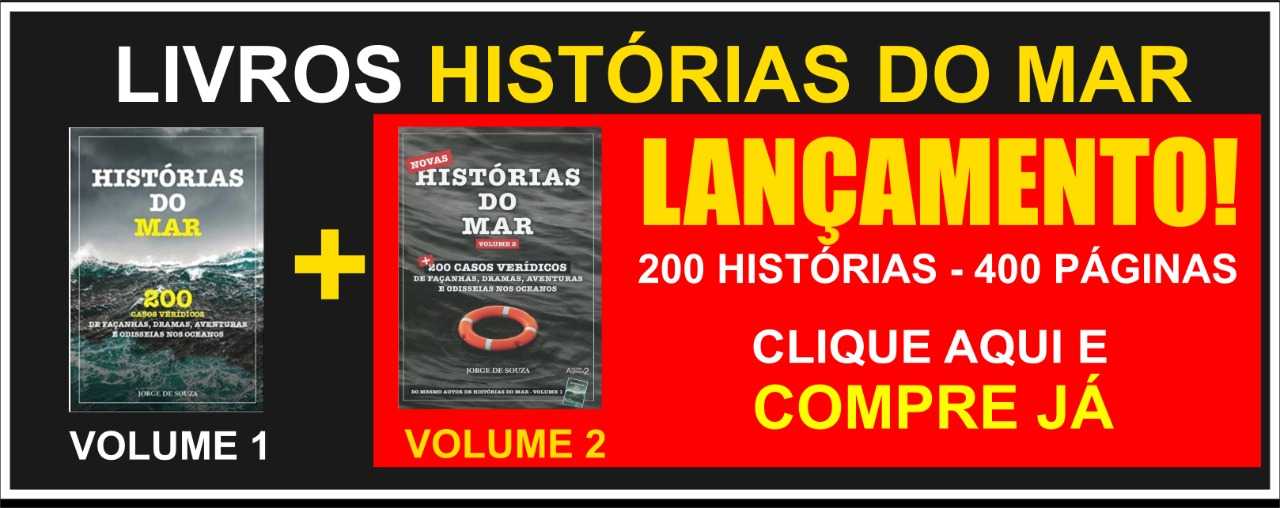

por Jorge de Souza | maio 4, 2021
Como pode um navio maior do que um campo de futebol desaparecer sem deixar nenhum vestígio, nem mesmo um simples pedacinho de madeira boiando no mar?
A resposta está no que o destino havia reservado para o Waratah, um navio misto de carga e passageiros, que fazia a rota entre a Austrália e a Inglaterra quando sumiu, sem deixar nenhum fragmento na superfície do mar, num ponto qualquer da costa da África do Sul, em julho de 1909.
Foi um dos grandes mistérios da época e, até hoje, desperta teorias, nenhuma cem por cento possível de ser comprovada, já que não houve sobreviventes.
Certo mesmo é que o Waratah, um navio novo e que retornava de sua viagem inaugural, partiu do porto de Durban, na África do Sul, rumo a quase vizinha Cidade do Cabo, onde faria mais uma escala na sua rota de volta à Europa, e jamais chegou lá.
Por quê?
Ninguém jamais soube dizer com absoluta convicção.
Mas poucos duvidam que o motivo tenha sido outro que não uma onda sorrateira e gigante, que engoliu o navio inteiro, de uma só vez.
A última vez que o Waratah teria sido supostamente visto foi na noite seguinte à sua partida de Durban, quando teria cruzado com o cargueiro Guelph, com o qual, como era hábito na época, quando ainda não havia rádio em todos os barcos, tinha trocado sinais de luzes, na tentativa de os dois navios se identificarem.
Mas uma fortíssima tempestade assolava a região, com ondas de até dez metros de altura, e o máximo que o operador do Guelph conseguiu identificar na mensagem visual foram as três últimas letras do nome da outra embarcação: “TAH”.
Seria muita coincidência haver outro navio passando por ali naquela noite com a mesma terminação no nome, mas o operador do Guelph jamais pode afirmar que se tratava do mesmo barco.
Dois dias depois, como o Waratah não chegou à Cidade do Cabo, começaram as buscas – que não deram em nada e se arrastaram por seis meses, a procura de algo.
Ninguém podia acreditar que um navio daquele porte pudesse desaparecer sem deixar nenhum indício.
Mas foi o que aconteceu.
O Waratah sumiu como se tivesse sido engolido pelo oceano.
E a explicação mais provável é que tenha sido isso mesmo o que aconteceu.
A hipótese mais aceita é que o Waratah tenha sido vítima de uma onda gigante, ou “onda louca”, uma muralha de água que surge do nada e engolem tudo, inclusive navios inteiros, não tão rara assim naquele trecho da costa da África.
Durante muito tempo, a ciência negou a existência destas superondas, baseada em estudos que mostravam que as ondulações nos oceanos seguiam padrões lineares de tamanho.
Portanto, as ondas não poderiam variar tanto de uma para outra.
Mas os cientistas estavam errados, como ficaria provado mais tarde.
Hoje, na medida do possível, mesmo os grandes navios tentam evitar navegar pelas zonas mais sujeitas ao surgimento das ondas gigantes, como aquela parte da costa sul-africana.
Mas, na época do Waratah, ninguém sabia disso.
Seu comandante, Joshua Ilbery, com mais de 30 anos de mar, era um homem experiente e, ao partir da Austrália, já havia notado que o navio apresentava alguns problemas de estabilidade, que teriam que ser sanados tão logo retornasse à Inglaterra.
Mesmo assim, naquela viagem, levava uma tenebrosa carga de chumbo e 212 passageiros a bordo – que viraram 211, quando um deles desistiu da viagem na escala em Durban, alegando que havia tido uma premonição sobre um naufrágio.
Pois aquele homem atormentado acabaria se tornando o único “sobrevivente” do Waratah, embora não estivesse a bordo quando o que quer que tenha sido aconteceu com o navio.
Mas, talvez, ele não tenha sido o único.
Tempos depois do desaparecimento do Waratah, um homem mentalmente confuso surgiu vagando numa praia da África do Sul, dizendo coisas sem nexo, mas intercalando-as com palavras que davam a entender “Waratah” e “onda grande”.
E acabou internado num hospício.
Mas, para muitos, não se tratava de nenhum maluco e sim do único real sobrevivente da tragédia, embora isso nunca tenha sido comprovado.
Até porque o ponto exato onde o navio desapareceu jamais foi descoberto.
Em 2001, uma expedição financiada por um empresário sul-africano anunciou ter encontrado o Waratah no fundo do mar, há menos de dez quilômetros da costa.
O fato causou furor, mas não passava de um engano.
O casco submerso era o de um navio da Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo descoberto por acaso.
E ao lado dele jaziam os destroços de outro naufrágio, o do navio Oceanos, que afundou em agosto de 1991, também por causa das ondas, mas cujos passageiros tiveram a sorte de serem resgatados.
Já a localização dos restos do Waratah e dos seus infelizes ocupantes continua ignorado até hoje.
Gostou desta história?
Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço promocional de R$ 49,00 com ENVIO GRÁTIS
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

Quer ler outra história? CLIQUE AQUI







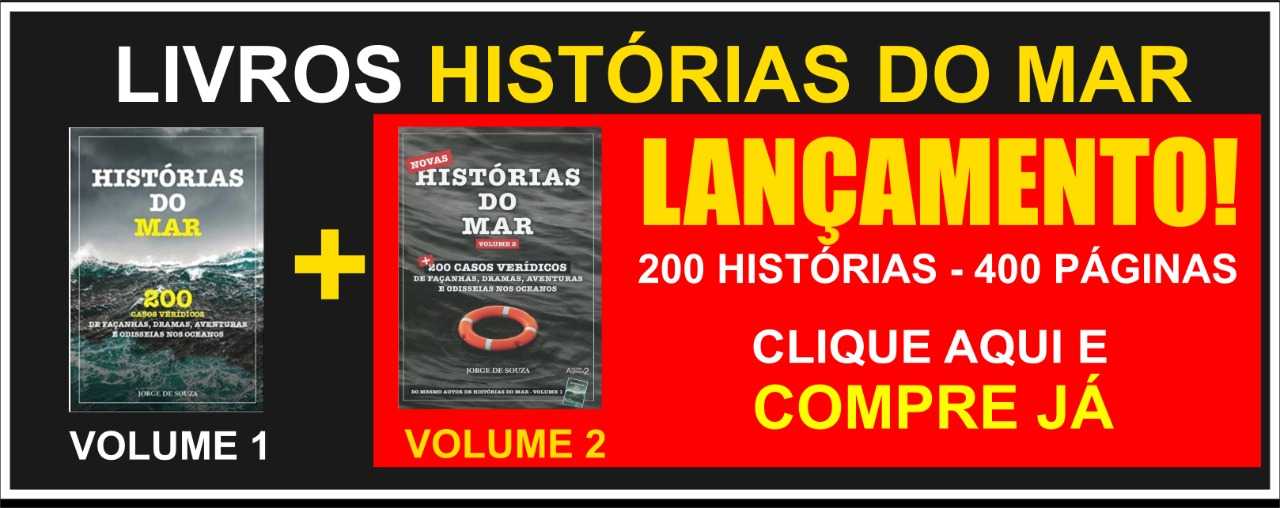

Comentários