
O submarino desaparecido que comoveu a Argentina
Em 8 de novembro de 2017, o submarino ARA (de “Armada de la República Argentina”, como são precedidos os nomes de todos os barcos militares argentinos) San Juan partiu do porto de Ushuaia, na Terra do Fogo, com destino a sua base naval, em Mar de Plata, com 44 tripulantes a bordo.
Mas sumiu, em algum ponto do mar sempre agitado da Patagônia.
Não foram, porém, as condições ruins do mar naquele dia, com ondas que passavam dos oito metros de altura, que tragaram o submarino.
Ao fazer aquele que viria a ser o seu último contato com terra-firme, sete dias após a partida de Ushuaia, o comandante do ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, reportou que estava tendo problemas com as baterias, equipamento vital em um submarino, porque, uma vez submerso, tudo depende delas – inclusive a capacidade de renovação do ar que é respirado a bordo.
“Entrada de água pelo sistema de ventilação. Curto circuito nas baterias de proa. Em imersão, propulsando com circuito dividido. Manterei informações”, relatou o comandante, pelo rádio, acrescentando que, apesar disso, seguia navegando.
Pouco tempo depois, do outro lado do oceano, sensores de abalos submarinos instalados nas ilhas Ascenção, no Atlântico, e Crozet, no Índico, detectaram uma oscilação que bem poderia ter sido causada por uma explosão – a do ARA San Juan.
O ARA San Juan, um dos únicos três submarinos que a Argentina possuía, havia sido construído na Alemanha 30 anos antes e já estava um tanto debilitado, tanto pelo tempo de uso quanto pela não muito confiável manutenção que o precário orçamento da Armada Argentina permitia.
Sua última grande revisão acontecera três anos antes e foi feita no próprio país, o que, na ocasião, foi saudado pelo governo argentino como uma conquista da sua engenharia naval, quando o mais indicado é que o submarino fosse enviá-lo a um país tecnologicamente mais avançado.
Depois disso, como medida de economia, o ARA San Juan passou a navegar não mais que 20 horas por ano, o que, possivelmente, comprometeu sua manutenção preventiva.
A última viagem do ARA San Juan começou no dia 25 de outubro, quando, junto com outro submarino, o ARA Salta, partiu da base de Mar del Plata para unir-se a outros sete navios da Armada Argentina em manobras e exercícios militares.
Cinco dias depois, o ARA Salta retornou à base, mas o ARA San Juan seguiu para Ushuaia, então com 46 tripulantes – dois a mais que os 44 que morreriam no submarino dias depois.
Em Ushuaia, desembarcaram os dois tripulantes extras, Humberto René Vilte e Juan Gabriel Viana, que acabariam se tornando os únicos “sobreviventes” da tragédia que viria em seguida.
Em 8 de novembro, depois de, na véspera, fazer uma imersão de demonstração na baía diante da cidade com algumas autoridades a bordo, o ARA San Juan partiu de Ushuaia para novas manobras de patrulhamento no mar da Patagônia.
Depois disso, iniciou o retorno a base. Mas não chegou nem perto de lá.
O sumiço do submarino não demorou a ser percebido, mas a Armada Argentina preferiu não admiti-lo, alegando, a princípio, que a ausência de novos contatos era apenas um “problema de comunicação”.
Era o início de uma série de omissões, que levariam os familiares dos tripulantes ao desalento e, por fim, ao desespero.
Ao mesmo tempo, alimentadas pela falta de informações, começaram as especulações.
Só 12 dias após o desaparecimento do ARA San Juan, a Armada Argentina divulgou a última mensagem do comandante do submarino – aquela que deixava claro que havia havido um problema de entrada de água no compartimento de baterias.
Ao contrário do que possa parecer, o grande problema da entrada de água em um submarino não é a inundação.
É o contato da água salgada com as baterias, o que gera gases tóxicos quase sempre fatais num ambiente fechado, como o de um submarino.
Imediatamente, esta passou a ser a principal tese para explicar o desaparecimento do submarino: sua tripulação teria morrido asfixiada, enquanto o ARA San Juan seguia avançando – e descendo – sozinho, até ultrapassar o seu limite máximo de profundidade, que era de 250 metros.
Ao passar disso, ele teria implodido, ou seja, explodido de dentro para fora, por conta da pressão externa do mar.
Já outra teoria defendia que os tripulantes teriam sido vítimas apenas da implosão do submarino, o que, ao menos, os pouparia da agonia da asfixia, porque eventos desse tipo levam milésimos de segundo para acontecer.
Neste caso, a morte dos 44 tripulantes, entre eles a única submarinista da América do Sul, a argentina Eliana Krawczyk, teria sido instantânea, sem sofrimento.
Outra teoria, no entanto, caminhou no sentido inverso e bem mais perverso: a de que a tripulação (ou parte dela) teria sobrevivido ao que quer que tenha acontecido com o submarino, mas perecido depois, em lenta agonia, por falta de oxigênio dentro do espesso cilindro de aço do casco inerte no fundo do mar do ARA San Juan.
Contudo, desde o princípio, esta foi considerada a hipótese menos provável.
Logo após a confirmação do desaparecimento do submarino, diversos países ofereceram ajuda aos argentinos nas buscas.
Inclusive a Inglaterra, arqui-rival na não tão distante Guerra das Malvinas.
Era, afinal, uma questão humanitária e aflitiva demais, porque sabia-se que os tripulantes só teriam oxigênio para respirar por, no máximo, sete dias.
E, dia após dia, não surgiu nenhum sinal do ARA San Juan, apesar das cerca de 4 000 pessoas, de 18 países, a bordo de 28 navios e nove aviões, empenhadas, dia e noite, em encontrá-lo.
Para complicar ainda mais as buscas, as condições climáticas na região onde o submarino desapareceu, uma inóspita área a cerca de 500 quilômetros da costa, eram péssimas na ocasião.
Ventos de 80 km/h erguiam ondas, que limitavam o avanço dos barcos e tornavam bem mais difícil a visualização de um submarino na superfície, mesmo pelos aviões.
Isso, caso o ARA San Juan tivesse emergido após o problema nas baterias, o que, pelo relato do comandante, era pouco provável que tivesse acontecido.
Mesmo que o ARA San Juan tivesse conseguido emergir, o mar revolto, o tempo fechado, a cor escura do casco e as próprias características de todo submarino (um tipo de barco feito justamente para navegar às escondidas, portanto com localização difícil, e que, mesmo quando está na superfície, navega semi-submerso, parcialmente camuflado pelo mar) tornariam a sua visualização na imensidão do oceano uma espécie de desafio praticamente impossível.
Parecia não haver saída para aqueles infelizes 44 tripulantes do submarino argentino.
Um dos motivos que levaram a Armada Argentina a não revelar detalhes sobre o acidente desde o princípio foi o receio das críticas que viriam, assim que o episódio fosse relacionado com a precária manutenção que as embarcações da corporação vinham recebendo, por falta de verbas do governo.
Além disso, o próprio ARA San Juan já havia apresentado defeito na válvula do sistema de ventilação na viagem anterior e, aparentemente, ele não havia sido sanado completamente – um inaceitável caso de negligência, em se tratando de uma embarcação que navega debaixo d´água.
Por isso, embora tivesse conhecimento da repetição do problema que afligira o submarino, a Armada Argentina sonegou a informação sobre a entrada de água no compartimento de baterias, bem como a eventual implosão do submarino aos familiares das vítimas por quase duas semanas.
Talvez, porque não tivesse certeza disso. Ou porque fosse menos doloroso ir minando as esperanças das famílias aos poucos.
Enquanto isso, o país torcia inteiro e rezava pelos tripulantes, ao mesmo tempo em que o mundo se perguntava: como pode uma embarcação de 65 metros de comprimento não ser localizada, em plena era da tecnologia?
Em 2 de abril, quatro meses e meio depois do desaparecimento do submarino, o último navio de buscas se retirou da região, sem nenhuma informação sobre o ARA San Juan.
Quando isso aconteceu, a tragédia já havia virado, também, uma crise política na Argentina.
O comandante da Armada havia sido demitido e uma comissão do Congresso passou a ouvir todos os envolvidos, já que havia suspeitas de falhas na manutenção do submarino e até pagamentos de propinas por fornecedores de equipamentos de qualidade suspeita.
Um executivo alemão chegou a admitir ter pago suborno para virar fornecedor de novas baterias ao submarino desaparecido.
Mas a Armada Argentina negou isso.
No entanto, perante a mesma comissão no Congresso, um ex-diretor de Inteligência da própria Armada, também demitido após o sumiço do submarino, fez uma revelação perturbadora: a de que o ARA San Juan não estava apenas em missão de patrulhamento de barcos pesqueiros, como divulgado na época, mas sim, também, monitorando a movimentação de embarcações nas proximidades da Ilhas Falklands, o que seria ilegal, já que o mar em torno daquelas pertence a Inglaterra.
Disse ainda que, a bordo do submarino, havia um integrante da sua equipe, cuja função era identificar embarcações estrangeiras que estivessem operando em águas argentinas “e, também, nas imediações das Malvinas”, o que teria levado o ARA Sam Juan a se aproximar indevidamente das ilhas que levaram o país à guerra contra a Inglaterra, em 1982.
Mas a Armada Argentina também negou que isso tivesse acontecido.
Enquanto isso, após terem passado mais de 50 dias acampados em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, os familiares das vítimas seguiam pressionando as autoridades e exigindo providências sobre a localização do submarino.
Não que eles ainda nutrissem alguma esperança de encontrar seus entes queridos vivos, mas era preciso encontrar o ARA San Juan, para, ao menos, tentar saber o que aconteceu.
A pressão levou o governo argentino a contratar uma empresa americana especializada em resgates submarinos, a Ocean Infinity, dona de um navio específico para isso, o Seabed Construtor, equipado com mini-submarinos não tripulados, capazes de descer a enormes profundidades.
O contrato era de risco: eles só receberiam os 7,5 milhões de dólares previstos no contrato se encontrassem o submarino.
Durante quatro meses, sempre com a presença de algum parente dos tripulantes desaparecidos a bordo do navio de buscas, a Ocean Infinity vasculhou o fundo do mar de uma gigantesca região, onde o submarino poderia ter passado.
E não encontrou nada.
No início de novembro, quando estava prestes a vencer o contrato, a empresa anunciou que encerraria as buscas tão logo vasculhasse a área onde o operador de sonar de uma fragata que participara das primeiras buscas pelo ARA San Juan disse ter ouvido ruídos semelhantes a pancadas intencionais num casco de metal, embora em local bem distante do ponto onde houve a última comunicação do comandante do submarino com a base.
A busca naquele local fora ordenada por uma juíza, também por pressão das famílias, e, tal qual todas as ações anteriores, não deu em nada.
Ironicamente, a frustrada operação terminou apenas horas antes do dia em que se completou um ano do desaparecimento do submarino.
Quando, na tarde de 15 de novembro de 2018, quatro parentes das vítimas do ARA San Juan desembarcaram, novamente decepcionados, seus iguais participavam de uma tocante cerimônia na mesma base de Mar del Plata de onde o submarino partira e jamais regressara.
O ato teve missa, salva de tiros, apitos sincronizados de todos os navios da Armada Argentina de Norte a Sul do país, e a presença do próprio Presidente argentino.
Mas, a pedido dos familiares, não houve o protocolar Minuto de Silêncio, nem nenhuma menção ao fato de as vítimas já estarem mortas, porque, para boa parte dos parentes, os tripulantes do submarino tinham que ser considerados apenas “desaparecidos”, até que fosse achado o submarino – uma maneira de constranger o governo, sobretudo o próprio Presidente ali presente, e forçar que as buscas pelo ARA San Juan não fossem encerradas, como a Ocean Infinity já avisara que faria.
Mas não o fez.
Como num roteiro de filme, na noite do mesmo dia em que se completou um ano do desaparecimento do submarino, um dos robôs autônomos do Seabed Construtor detectou um objeto entre fendas no fundo mar, a 800 metros de profundidade, numa região que já havia sido vasculhada pelas primeiras equipes de buscas.
E a empresa resolveu chegar, como sendo a sua última missão.
E foi mesmo, porque era, de fato, o ARA San Juan.
O achado permitiu concluir, através de imagens dor robôs, já que seria praticamente impossível remover o submarino de tamanha profundidade, que o ARA San Juan havia realmente implodido – sua proa estava deformada e outras partes colapsadas.
Também trouxe a certeza, pelo menos para os responsáveis pelo inquérito, de que a causa de tudo fora o mau funcionamento, ou erro de operação, de uma das válvulas do sistema de ventilação (a mesma que já havia apresentado problemas na viagem anterior), que permitiu a entrada de água no compartimento das baterias, gerando um curto-circuito e gases que teriam aniquilado a tripulação e feito o submarino descer descontroladamente até o fundo, pouco depois de implodir.
O descobrimento dos restos do San Juan gerou também um sentimento de paz nos familiares dos 44 tripulantes do submarino, apesar de seus corpos jamais terem sido resgatados.
“Melhor assim”, resumiu o pai de uma das vítimas. “Agora que já sabemos onde eles estão, que fiquem lá, no fundo do mar, onde todos os submarinistas sempre preferem estar”.
A Argentina, até hoje, chora as vítimas do ARA San Juan.
Gostou desta história?
Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço promocional de R$ 49,00 com ENVIO GRÁTIS
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor






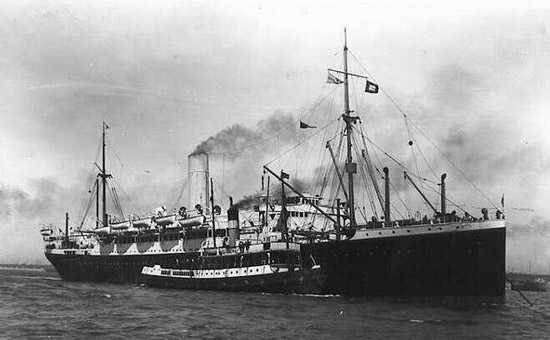

Comentários