Na década de 1990, sérios problemas políticos e econômicos levaram milhares de cubanos a tentar fugir para os Estados Unidos pelo mar, atravessando os 170 quilômetros de água que separam a ilha de Cuba do território americano a bordo de embarcações pra lá de...

A ilha do correio náutico do tempo das cavernas
O Estreito de Torres, entre a Austrália e Papua Nova Guiné, é uma das regiões de navegação mais crítica do mundo. Ali, onde boa parte do Pacífico escoa para o Índico, as correntezas são sempre fortes e, por isso mesmo, palco de muitos naufrágios no passado.
Foram tantos afundamentos, que, antes de ganhar um farol, uma das ilhas do estreito, a pequena ilha Booby (“Atobá”, em inglês, numa referência a quantidade de aves marinhas que a habitavam antigamente), ganhou outro recurso para ajudar os náufragos que iam dar nas suas margens: um permanente estoque de água e comida, deixados por boas almas em uma pequena caverna que existe na ilha.
Aquela improvável “despensa” no meio do mar salvou inúmeras vidas no passado e logo ficou bastante conhecida entre os navegadores da época da colonização da Austrália.
No entanto, durante muito tempo, a caverna da ilha Booby desempenhou outra função igualmente importante para os navegadores da época: era uma espécie de caixa de correio.
Numa época em que a comunicação no mar era impossível, os barcos que seguiam para a Austrália, Nova Zelândia ou demais ilhas do Pacífico Sul deixavam mensagens para serem levadas de volta para terra-firme pelas naus que regressavam.
E isso fez aumentar as visitações na pequena ilha, a cerca de 50 quilômetros da costa australiana, favorecendo os próprios náufragos, que passaram a ter mais chances de resgate, por conta da chegada mais frequente de barcos.
Não raro, uma nau parava na ilha Booby apenas para deixar uma mensagem e partia de lá com um punhado de náufragos, que só não ficavam desesperados em busca do regaste, graças aos tais víveres que eram deixados na caverna.
Batizada de “Caverna do Correio” e hoje transformada em atração turística (se bem que poucos turistas vão até lá), a caverna da ilha Booby tem uma história ainda mais remota.
Bem antes dos náufragos e das mensagens deixadas pelos barcos, foi frequentada por primitivos povos da região, que deixavam desenhos grafados nas suas paredes de pedra.
Mas poucas daquelas pinturas rupestres sobreviveram ao tempo, porque, ao verem aqueles desenhos, os comandantes das primeiras naus que passaram pela ilha Booby tiveram a ideia de deixar registrados o nome dos seus barcos, muitas vezes sobre as próprias figuras – que, com isso, acabaram deterioradas.
Com o passar do tempo, também os nomes dos barcos mais antigos foram sendo apagados ou sobrepostos com outros registros (todos, como era hábito na época, seguidos pelo ano em que foi feito), o que transformou as paredes da caverna da ilha Booby numa espécie de linha do tempo da história do Estreito de Torres.
Também os faroleiros que passaram a cuidar do farol da ilha Booby, implantado em 1890, mantiveram a tradição de deixar seus nomes registrados nas pedras da caverna, o que aumentou ainda mais a quantidade de grafites históricos.
Até hoje, o interior da caverna da ilha Booby é decorado com nomes de alguns antigos barcos e faroleiros que passaram por lá, alguns, ainda do século 19.
Consta que o primeiro navegador a deixar seu registro ali (e fomentado o que aconteceria em seguida) teria sido o comandante da nau inglesa HMSV Torch, em 1857 – 87 anos depois de a ilha Booby ter sido oficialmente descoberta (e batizada) pelo lendário Capitão James Cook, primeiro explorador da região. E que o também famoso capitão William Bligh teria passado pela ilha Booby com seu pequeno barco, após ter sido expulso da nau Bounty, no mais famoso motim da História.
Mas foi no século 19, com o aumento no número de barcos (e naufrágios) no perigoso estreito que a fama da caverna da ilha Booby ganhou outras dimensões que não apenas um local para deixar registrado a passagem das naus a caminho de novas terras.
E foi também nessa época que surgiu o mais original correio náutico que se tem notícia: a curiosa caverna da ilha Booby.
Imagem: National Library os Australia
O incrível caminhão que navegava e outras ousadias dos fugitivos de Cuba
O barco que só ficou visível por três dias
paradeiro final da escuna R. Kanters, que desaparecera durante outra tempestade na região, mais de um século antes. A tormenta remexeu o fundo de areia na beira do lago, na altura da pequena cidade de Holland, e fez aflorar parte do grande casco de madeira do barco,...
O remador que só perdeu para a corrida da Lua
O inglês John Fairfax sempre teve a aventura no sangue. Quando jovem, entre outras estripulias, viveu sozinho na selva, feito Tarzan, tentou vir de bicicleta dos Estados Unidos para a América do Sul, contrabandeou armas e cigarros nas ilhas do Caribe e, para...
O maior dos mistérios dos Grandes Lagos
Os Grandes Lagos Americanos, entre os Estados Unidos e o Canadá, não têm esse nome por acaso. Juntos, eles concentram o maior volume de água doce represada do planeta e, nos dias de tempestades, nem de longe lembram a placidez habitual de um lago. Ao contrário,...
O que aconteceu com a inglesa que desapareceu no mar do Caribe?
Há três anos, um mistério intriga os moradores de St. John, uma das Ilhas Virgens Americanas, no Caribe: o que aconteceu com a velejadora inglesa Sarm Joan Lillian Heslop, uma ex-comissária aérea de 41 anos, que aparentemente desapareceu do barco onde viva com o...
A grande trapaça na maior das regatas
Em maio de 1967, o velejador inglês Francis Chichester virou ídolo na Inglaterra ao completar a primeira circum-navegação do planeta velejando em solitário, com apenas uma escala. O feito, até então inédito, animou os velejadores a tentar superá-lo, fazendo a mesma...








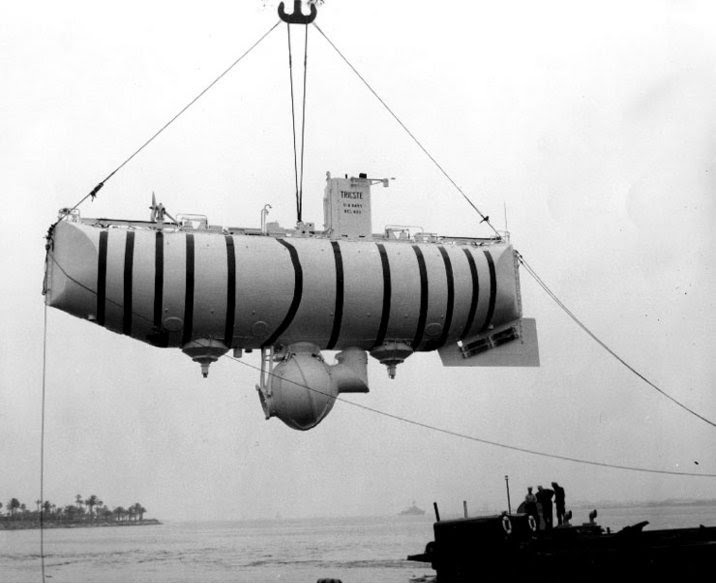




Comentários