
por Jorge de Souza | nov 17, 2021
No início da noite de 2 de agosto de 1981, um tufão varreu o mar do Golfo de Bengala, uma enorme porção de água entre a Índia e Myanmar.
Entre os navios que navegavam na região na ocasião estava o cargueiro panamenho, mas que pertencia a uma empresa de Hong Kong, Primrose, que partira de Bangladesh com destino a Austrália dias antes, com um carregamento de ração para frangos e 31 tripulantes a bordo – todos chineses, incluindo o capitão, Liu Chunglong.
Quando a tormenta aumentou ainda mais de intensidade, por volta da meia-noite, o capitão Chunglong não conseguiu impedir que o navio, que vinha sendo empurrado inclementemente pelas ondas e ventos, encalhasse em um recife de coral a menos de 100 metros da praia de uma das ilhas do arquipélago Andaman e ali ficasse, cravado e impossibilitado de se movimentar – mas sem risco imediato de naufragar.
O perigo, no entanto, existia.
Mas era outro.
E ainda mais apavorante.
Durante dois dias e duas noites, não houve como ajudar o navio encalhado, por conta da tempestade, que impedia a aproximação de qualquer aeronave ou embarcação.
Até que, no terceiro dia, o escritório da empresa dona do Primrose recebeu uma perturbadora mensagem do capitão Chunglong, pedindo o envio urgente de armamentos.
Armamentos?
Por que aqueles homens, retidos dentro de um navio encalhado, precisariam de armas?
Que risco o capitão achavam que corriam, entalados diante de uma ilha coberta de densa mata, que parecia deserta?
A resposta estava no nome daquela ilha: Sentinela do Norte – a famigerada ilha dos sentineleses, uma tribo de homens primitivos, selvagens e arredios a qualquer contato com o mundo exterior, considerados um dos mais hostis e isolados do mundo.
E o capitão tinha motivos para estar preocupado.
Naquela manhã, a tripulação do inerte cargueiro avistara, saindo da mata que margeava a praia, um grupo de homens negros, nus e atarracados, carregando grandes arcos, flechas e lanças, que começaram a montar o que parecia ser uma jangada, feita de troncos de árvores.
Parecia claro que a intenção do grupo era navegar até o navio imobilizado e atacá-lo – por mais absurda que aquela situação parecesse.
Imediatamente, o comandante chinês ordenou que a tripulação se armasse com tudo o que pudesse virar instrumento de defesa (pedaços de cano, pistolas sinalizadoras etc) e ficasse de vigia no convés, a despeito do mau tempo que ainda imperava na região.
Apesar do clima inclemente, aqueles sentineleses, cerca de 50 homens, como estimou o capitão, pareciam determinados a terminar a construção da primitiva embarcação e com ela avançar até o grande navio, onde três dezenas de homens viviam a angustia de um pré-ataque selvagem.
Por sorte, porém, foi o próprio mau tempo que impediu que conseguissem o seu intento.
Grandes ondas impediram que a jangada fosse além da praia, e fortes ventos desviaram as flechas que, ainda assim, eles lançaram contra o navio.
Rapidamente, a notícia de que um navio de aço estava sendo atacado por flechas indígenas em pleno final do Século 20, com risco real de vidas, virou manchete no mundo inteiro, o que pressionou as autoridades da Índia, a quem pertencem as Ilhas Andaman (embora isso não se aplique a Ilha Sentinela do Norte, cuja posse legal é dos sentineleses), a fazer algo efetivo para ajudar aqueles assustados marinheiros.
A primeira tentativa, por mar, foi frustrada: o bote inflável lançado por um navio da Marinha indiana próximo ao Primrose quase virou nas ondas e a operação teve que ser cancelada, antes que a quantidade de vítimas a mercê dos selvagens da ilha aumentasse ainda mais.
Já a segunda tentativa, pelo ar, foi bem-sucedida, após uma série de tentativas.
Um helicóptero, pilotado por um ex-aviador americano da Guerra do Vietnã, que morava na capital das Ilhas Andaman e se ofereceu como voluntário para a difícil missão de pousar a aeronave no estreito convés do cargueiro, conseguiu resgatar os tripulantes do navio, a despeito da chuva de flechas que os sentineleses disparavam da praia, contra a aeronave.
Ao final de três viagens, todos os 31 tripulantes do Primrose estavam salvos.
Mas não o navio.
Seria arriscado demais para as equipes de resgate passarem dias tentando desencalhar o cargueiro, sob a constante ameaça de ataques dos sentineleses – que, por outro lado, por serem seres vulneráveis e protegidos, não poderiam ser combatidos.
Com isso, o Primrose acabou condenado a virar um amontoado de ferros carcomidos pelo tempo, que, ainda hoje, podem ser vistos encravados em uma das pontas da Ilha Sentinela do Norte, nas imagens do Google Earth.
Dez anos depois, em 1991, naquele que seria o único e último contato pacífico com os habitantes da ilha Sentinela do Norte, hoje proibida a qualquer visitante, um grupo de antropologistas notou que as flechas e lanças que os nativos ostentavam continham pontas de metal, material que eles, até então, desconheciam.
A conclusão foi que os sentineleses haviam invadido o navio encalhado e dele retirado materiais que usaram para aperfeiçoar seus armamentos.
Graça a um navio, os sentineleses haviam, por fim, atingido a era do metal – 8 000 anos depois do restante da humanidade.
Gostou dessa história?
Leia muitas outras assim no livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço promocional de R$ 49,00, com ENVIO GRÁTIS.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor
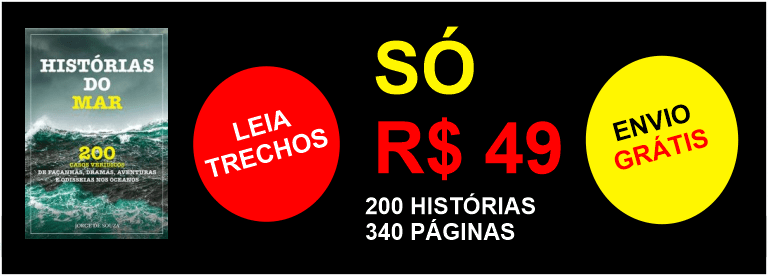

por Jorge de Souza | out 24, 2021
Dez anos atrás, em novembro de 2012, o barco australiano de pesquisas R/V Southern Surveyor fazia um estudo sobre placas tectônicas entre a costa leste da Austrália e a Nova Caledônia, quando um detalhe chamou a atenção dos cientistas a bordo.
Embora os mapas do Serviço Geral de Batimetria dos Oceanos, uma entidade reconhecida até pela Unesco, indicassem a existência de uma ilha com 60 km2 naquela região, as cartas náuticas usadas pelo capitão do barco mostravam apenas água, e mais nada.
Intrigados, eles, então, resolveram consultar as imagens do Google Earth na Internet e ficaram ainda mais confusos.
No mesmo local onde o Serviço de Batimetria dos Oceanos exibia claramente uma ilha, identificada como Ilha Sandy (“Arenosa”, em português), e as cartas náuticas do barco exibiam apenas o mar a perder de vista, as imagens do Google Earth mostravam uma intrigante mancha negra, com o mesmo formato da suposta ilha, como se ela tivesse sido apagada da imagem original.
E foi isso mesmo que aconteceu, como os atônitos cientistas descobririam ao rumar para o tal ponto indicado nos dois mapas e constatar que não lá havia ilha alguma – embora o Serviço de Batimetria afirmasse que “sim”, e o Google Earth sugerisse um desconcertante “talvez tenha havido”.
Como uma ilha do tamanho de Manhattan, em Nova York, poderia ter desaparecido?
Como uma imagem de satélite podia ter mostrado algo que não existia?
Como confiáveis mapas podiam exibir tamanha discrepância?
Todas as perguntas convergiam para a mesma resposta: a Ilha Sandy jamais existiu
Naquele dia, a principal descoberta dos pesquisadores do R/V Southern Surveyor foi a “não descoberta” de uma ilha que boa parte do mundo julgava que existia.
Foi a partir daquela inequívoca constatação que começou o escândalo da “ilha que nunca existiu” – e que colocou o Google Earth numa saia justa danada.
Como explicar aquele constrangedor borrão no exato ponto onde alguns mapas indicavam haver uma ilha e a tripulação do barco australiano provou que não havia nada?
Como uma ilha inexistente poderia aparecer em uma imagem supostamente de satélite?
A única explicação possível é que se tratava um erro absurdo: a existência, em mapas e até nas imagens do Google Earth, de uma ilha que não existia. E isso em pleno Século 21!
O Google se esquivou como pode.
“Imagens do Google Earth provém de uma série de provedores e plataformas”, dizia o site da empresa, sem maiores detalhes – como se a polêmica tivesse sido gerada a partir de um mapa desenhado por mãos humanas, sabidamente falíveis, e não por imagens de satélites supostamente fidedignas ao que existe de fato no planeta.
Mesmo assim, o episódio ganhou o apoio de alguns especialistas, apesar da perplexidade geral dos cientistas.
“Os oceanos são gigantescos e, certamente, nós ainda não sabemos tudo sobre eles. E é por isso que ainda existem navios de pesquisa”, desconversou o oceanógrafo e cartógrafo americano David Titley, ao ser consultado sobre o constrangedor assunto.
Houve também quem lembrasse de uma antiga prática dos velhos cartógrafos, a de incluir algo fictício ou deliberadamente errado nos mapas a fim de desmascarar quem os copiasse, para justificar a presença de uma ilha onde não havia nada.
Neste caso, a armadilha teria se perpetuado nos mais diferentes mapas, e se transformado em uma “verdade”.
Mas o Serviço de Batimetria dos Oceanos e o Google não foram as únicas entidades que caíram na farsa.
Desde que fora “descoberta”, em 1876, pela tripulação de um certo barco baleeiro chamado Velocity, a “existência” da Ilha Sandy (que, depois, seria erroneamente confundida com outra ilha do mesmo nome, na mesma região – e esta real -, descoberta pelo lendário capitão James Cook, em 1774, o que pode ter gerado boa parte da confusão), passou a constar nos mais diferentes mapas, dando ênfase a patética lambança cartográfica.
No início do século 20, a “ilha invisível”, “ilha fantasma” ou “ilha que nunca houve”, como a Ilha Sandy passou a ser jocosamente apelidada após ser desmascarada a mentira geográfica, aparecia em todos os mapas da região, a começar pelas respeitadas cartas marítimas dos almirantados da Alemanha e da Inglaterra, que, na época, balizavam a navegação mundial.
Também constava nas plantas oceânicas do conceituado Instituto Britânico de Oceanografia, que serviam de base para outras tantas cartas náuticas, e nos mapas da prestigiada National Geographic Society, uma espécie de Bíblia geográfica do planeta, antes da era dos satélites.
E continuou assim por mais de um século.
Em 1982, a fictícia Ilha Sandy ainda constava nos mapas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, embora a Marinha da França já a tivesse removido, sem muito alarde, do seu departamento de hidrocartografia desde 1974, quando um voo de reconhecimento mostrou que no local indicado como sendo o da duvidosa ilha só existia o mar aberto, e com profundidades que passavam dos 1 300 metros – impossível, portanto, haver ou ter havido uma ilha ali.
Imediatamente, o Instituto Britânico de Oceanografia emitiu uma discreta errata (nenhum órgão queria alardear publicamente o erro grosseiro) e outros mapas passaram a classificar a suposta ilha com a sigla “ED”, de “existence doubtful” (“existência duvidosa”, em português).
Mas foi só quando os pesquisadores australianos constataram in loco que não havia nada no local onde a Ilha Sandy deveria estar, que a National Geographic Society e o Google a apagaram dos seus mapas.
E isso aconteceu menos de nove anos atrás.
De acordo com a crença mundial, a Ilha Sandy, que teria cerca de 25 quilômetros de extensão por cinco de largura, portanto, não tão pequena assim, ficava no nordeste do Mar de Coral, entre as ilhas (reais) de Chesterfield e Nereus, a meio caminho entre a Austrália e o território francês da Nova Caledônia, numa área particularmente remota do Pacífico Sul.
Mas, como ficaria inquestionavelmente provado, nas suas coordenadas indicadas nos mapas (19.22S e 159.93E) só havia água.
E nenhum sinal de que ali, algum dia, teria existido uma ilha.
Ilhas que surgem ou desaparecem não são obras de ficção.
A História e a geografia registram alguns casos, sempre ligados a fenômenos naturais, como erupções de vulcões e erosões causadas pelo mar.
Em pelo menos um caso, o da efêmera Ilha Sabrina, no Arquipélago dos Açores, aconteceram as duas coisas.
Em junho de 1811, a ilha surgiu do nada, a partir de uma erupção submarina, mas apenas três meses depois, desapareceu por completo, dissolvida pelo mar.
Mesmo assim, chegou a ser pleiteada pelos ingleses como um “novo território descoberto”, apesar de ficar em águas portuguesas – uma interessante história verídica, que pode ser conferida clicando aqui.
Contudo, nada disso aconteceu com a fictícia Ilha Sandy, embora ela tenha feito parte da cartografia mundial durante mais de um século.
A tese mais provável – e aceita pela ciência – para explicar a “existência” da Ilha Sandy no passado é que o que os tripulantes do baleeiro Velocity avistaram, em 1876, teria sido uma fenomenal aglomeração de pedra-pomes no mar, um tipo de rocha vulcânica que flutua, gerada por alguma erupção na região, que, quando vista de longe, poderia ter dado a impressão de ser terra firme.
Para reforçar esta tese, mais tarde, descobriu-se que havia um vulcão submerso adormecido no local onde até o Google dizia que a Ilha Sandy estava.
Mas não a própria ilha.
Foi um vexame generalizado, que entrou para a história do mundo da cartografia.
Gostou dessa história?
Leia centenas de casos e fatos assim sobre o mar nos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1 e 2, que podem ser comprados CLICANDO AQUI com desconto de 25% no preço dos dois livros e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler OUTRAS HISTÓRIAS
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | out 7, 2021
A America´s Cup, a regata mais famosa do mundo e também a mais antiga competição ainda em disputa entre todos os esportes, foi assim batizada por causa de um barco: o iate americano America, cuja história foi realmente digna de tal homenagem.
Ele foi construído em 1851, nos Estados Unidos, como uma prova de que os americanos já eram capazes de fazer barcos tão bons e velozes quanto os dos colonizadores ingleses.
Quando ficou pronto, o America logo cruzou o Atlântico, para participar de uma competição contra 17 barcos ingleses, na própria Inglaterra – foi, também, o primeiro barco a atravessar um oceano com o único objetivo de participar de uma regata.
Lá chegando, não fez por menos e venceu a prova, fato que acabou gerando um comentário que entrou para a história.
Quando a rainha inglesa Victoria, que estava presente ao evento, perguntou a um súdito qual barco havia chegado em segundo lugar, atrás do veleiro americano, ouviu, respeitosamente, que “naquela competição, não havia segundo colocado” – porque só a vitória importava.
A partir de então, em homenagem ao feito daquele veleiro vindo de uma ex-colonia inglesa, a mais lendária das regatas passou a ser chamada de “America´s Cup” e começou a ser disputada a cada quatro anos.
E, fazendo jus ao nome da própria competição, o domínio americano na America´s Cup durou longos 130 anos, até ser quebrado pelo veleiro australiano Australia III, em 1983.
Já o barco que deu origem a esta hegemonia centenária teve um destino bem mais curto – e um fim inglório.
Depois daquela surpreendente vitória na Inglaterra, o America foi vendido a um milionário inglês, que o rebatizou Camilla.
Em seguida, o barco passou pelas mãos de outros donos europeus, até retornar aos Estados Unidos, às vésperas da Guerra Civil americana.
Ao chegar, foi requisitado pelos Confederados para atuar no conflito e teve o seu nome novamente alterado, desta vez para Memphis.
Por conta da sua incrível capacidade de velejar rápido, foi transformado em barco de interceptação de embarcações que supriam os inimigos da União com armamentos e mantimentos.
Mas, quando os Confederados se viram cercados, o destino do America acabou sendo selado.
Para não cair nas mãos dos inimigos, o outrora garboso veleiro foi propositalmente afundado, em 1862, em um canal, nos arredores de Jacksonville, no norte da Florida.
E ali ficou por mais de um ano, até ser localizado, no fundo do canal, mas ainda em bom estado, por um pesquisador das tropas da União.
O America, então, foi recuperado, voltou a navegar com o seu nome original, mas passou a combater do outro lado do conflito.
Quando a Guerra Civil terminou, passou a ser usado como barco de treinamento da Academia Naval de Annapolis.
Mas, seis anos depois, em 1870, voltou a disputar a copa que ele mesmo criara, terminando em quarto lugar – nada mal para um barco com já quase 20 anos de uso e tantos contratempos no currículo, inclusive um completo naufrágio.
Depois disso, o America foi vendido ao general americano Benjamin Butler, que o usou como iate particular, por outros 20 anos.
Em 1893, com a morte do general, o histórico veleiro foi arrematado por um comitê de restauração da história americana e novamente entregue a Academia de Annapolis.
Lá, foi reformado, restaurado e colocado em exposição permanente, como reconhecimento por aquela histórica vitória contra os ingleses, décadas antes.
E assim o veleiro ficou por muitos anos, até que, em 1942, com o início da Segunda Guerra Mundial, foi retirado da água e levado para um galpão da academia, a fim de não correr nenhum risco.
Mas, ironicamente, foi justamente ali, na pseudo segurança de um depósito, que o America encontrou o seu final inglório.
Durante uma tempestade, em 29 de março daquele ano, o teto do galpão desabou, despedaçando o barco que, de certa forma, simbolizava o próprio orgulho americano.
Ficou, no entanto, o legado da America´s Cup, a mais famosa competição de barcos a vela do mundo, que é disputada até hoje.
Gostou desta história?
Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, com ENVIO GRÁTIS
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | out 1, 2021
No início de maio, a informação dada pela Marinha da Indonésia de que o afundamento do submarino KRI Nanggala-402, no dia 21 de abril deste ano, com 53 homens a bordo, pode ter sido causado por um fenômeno natural chamado “onda interna solitária”, deixou a imensa maioria das pessoas do planeta intrigadas.
E perplexas.
Até então, praticamente ninguém fora do meio científico tinha ouvido falar de tal tipo de onda submersa.
No entanto, mesmo quem nunca pôs os pés em submarino, mas já voou de avião, muito possivelmente já sentiu algo bem parecido, sob outro nome: turbulência.
“Ondas internas” são uma espécie de turbulência no fundo do mar. Só que, dependendo da região e da topografia do leito marinho, elas se tornam bem mais intensas do que uma simples turbulência no ar.
E são bem mais comuns do que se possa imaginar.
O princípio das ondas submarinas é o mesmo das correntes de ar.
No céu, quando o vento passa sobre uma colina íngreme, o ar é empurrado para cima, em um movimento contrário ao da gravidade.
Mas, ao ser superado o obstáculo, a gravidade volta a agir e o movimento torna-se inverso, acelerando o ar para baixo.
É o que acontece também no mar.
“Ondas internas” ocorrem quando os movimentos mais intensos das marés passam por grandes obstáculos no fundo do mar.
Mas só ganham dimensões realmente relevantes quando isso acontece em áreas onde há grande variação na densidade da água (leia-se temperatura e salinidade), entre a superfície e as partes mais profundas.
Quando essa “turbulência submarina” rompe a divisão das águas com diferentes densidades, surge uma “onda interna”.
E quando essa onda se superpõe a outras, acumulando toda a energia em uma só onda, que gera um fortíssimo movimento circular submerso, surge uma onda solitária interna – que é bem mais forte do que as ondas internas convencionais.
Ao que tudo indica, foi o que atingiu o submarino indonésio, que foi encontrado quatro dias depois, no fundo do estreito da ilha de Bali.
No mesmo dia e horário em que o submarino indonésio desapareceu dos sonares, um satélite meteorológico japonês havia detectado a presença de movimentos de ondas internas na região onde ocorreu a tragédia.
Não era, contudo, nenhum fato raro, porque toda aquela região, com intenso fluxo de água entre os oceanos Pacífico e Índico, e fundo marinho bastante acidentado, sempre foi propícia a formação desse tipo de ondulações desse tipo – que, por sinal, em menor escala, frequência e intensidade, acontece em todos os mares do mundo.
Ali, no entanto, o fenômeno é particularmente bem mais comum e intenso, fruto da combinação de grandes marés com altas montanhas submersas, que potencializam os efeitos das “ondas internas”.
“O mar da Indonésia concentra cerca de dez por cento das marés mais enérgicas do planeta”, atesta a oceanógrafa Bernadette Sloyan, do Instituto Oceânico e Atmosférico do Austrália, que fica ali perto.
“E isso gera constantes instabilidades entre a superfície e as partes mais profundas, por conta das diferentes densidades em diferentes camadas de água”.
Na região, o fenômeno costuma ocorrer mais de uma vez por mês.
E, para azar dos submarinistas indonésios do KRI Nanggala-402, pode ter ocorrido justamente quando eles estavam submergindo, não permitido uma reação a tempo.
Quando muito intensa, uma onda solitária interna, que cumpre movimentos circulares, leva para o fundo tudo o que encontra pela frente.
Uma delas pode ter provocado a descida acelerada e descontrolada do submarino, fazendo-o submergir muito mais do que poderia, o que gerou o colapso da sua estrutura, pelo aumento da pressão no fundo do mar.
Ao serem encontrados, os destroços do submarino indonésio estavam fragmentados em três partes, a 853 metros de profundidade – bem mais fundo do que ele fora projetado para suportar.
Embora esse possa não ter sido o único motivo (geralmente, grandes acidentes são causados por uma fatal combinação de erros ou fatores), é, até hoje, o que melhor explicou o naufrágio do KRI Nanggala-402, já que, segundo a Marinha da Indonésia, ao submergir, ele não mostrou nenhum indício de perda de energia ou pane elétrica a bordo, como inicialmente havia sido apontado como sendo a causa do desastre.
Na ocasião, as autoridades também negaram que o acidente pudesse ter sido consequência da idade avançada do submarino, que fora construído 40 anos antes, ou com a precariedade na sua manutenção, já que a última grande revisão pela qual ele passou aconteceu em 2012.
Embora o motivo oficial do acidente permaneça incerto até hoje, tudo indica que a participação de uma gigantesca onda solitária interna tenha sido determinante naquela tragédia.
Gosta desse tipo de história?
Leia 200 delas no livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço de R$ 49,00, com ENVIO GRÁTIS.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor
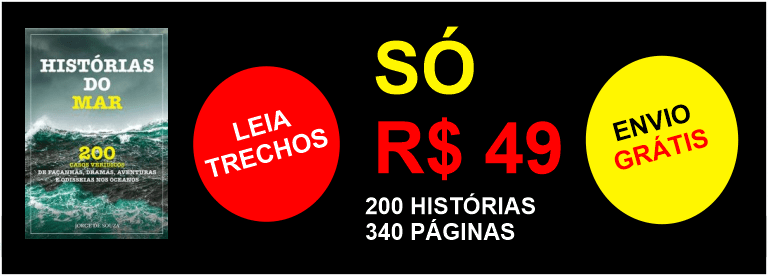

por Jorge de Souza | set 30, 2021
Quando um violento tsunami atingiu a Indonésia, em 2004, um barco de 25 metros de comprimento, levado pela inundação, foi parar em cima da casa da indonésia Fauziah Basyariah, na região de Banda Aceh, uma das mais afetadas pela tragédia.
Mas o que poderia ser o prenúncio de outra tragédia (o desmoronamento da casa causado pelo peso do barco) acabou sendo a salvação de Fauziah, da sua família e de um grupo de vizinhos, que ali haviam buscado abrigo contra a inundação – um total de 59 pessoas.
Ao perceber que o barco encalhara exatamente sobre sua casa, já então também tomada pelas águas, ela abriu um buraco no forro de madeira e mandou todos passarem para o telhado e embarcar no próprio barco – que permaneceu milagrosamente “ancorado” no teto da casa até o nível das águas baixaram.
E ali ele ficou até hoje, agora transformado em atração turística na cidade.
Virou a Arca de Noé do tsunami da Indonésia.
Gostou desta história?
Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço promocional de R$ 49,00 com ENVIO GRÁTIS
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor
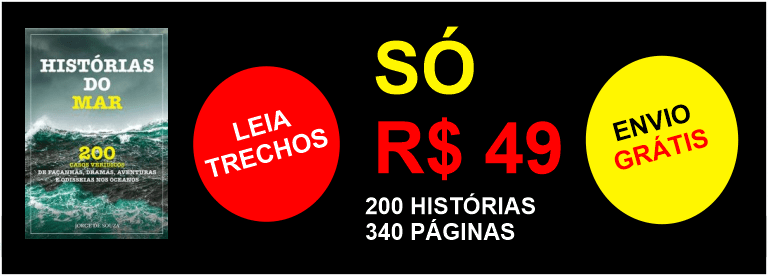

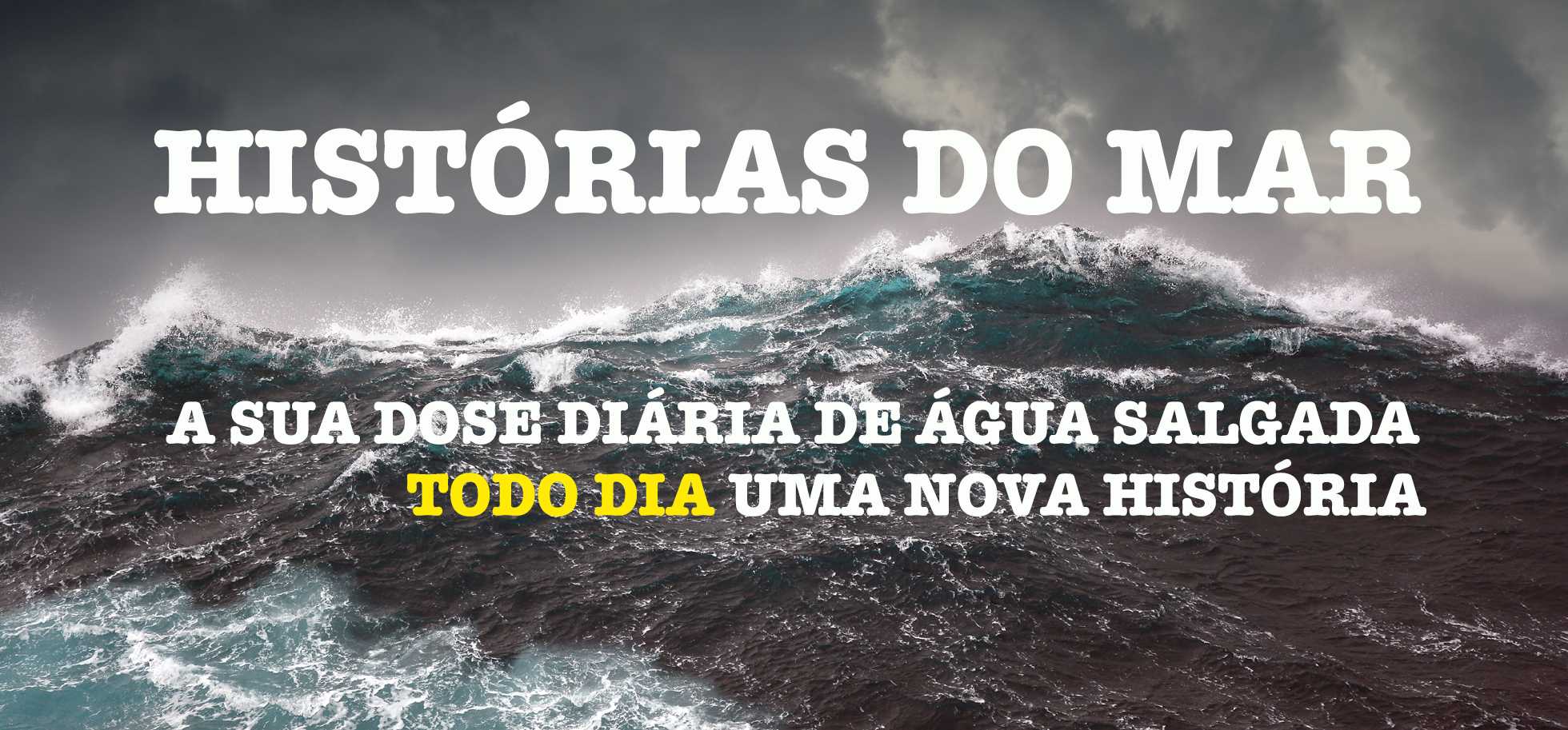
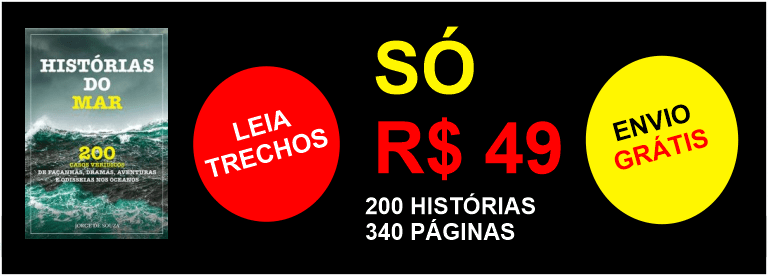





Comentários