
por Jorge de Souza | nov 24, 2022
Nas primeiras horas da manhã de 5 de fevereiro de 1941, uma forte ventania, aliada a uma densa neblina, fizeram o cargueiro inglês SS Politician sair da rota entre Liverpool, na Inglaterra, e Nova Orleans, nos Estados Unidos, e atropelar as pedras da ilha Eriskay, na costa noroeste da Escócia.
E ali ele ficou, entalado.
Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas entre os tripulantes e todos foram resgatados pelos poucos (não mais que 400) moradores da ilha, que os levaram para suas casas.
Lá, durante a habitual receptividade que dedicavam aos eventuais náufragos, os habitantes de Eriskay tomaram conhecimento da carga que o navio transportava: banheiras, pianos, roupas de cama, componentes para motores, o equivalente a três milhões de libras esterlinas em cédulas de dinheiro da Jamaica, que haviam sido impressas na Inglaterra.
E – mais precioso que tudo, ao menos para eles… – 22 000 caixas de uísque escocês, que somavam 264 000 garrafas do mais puro scotch, este sim um autêntico tesouro, sobretudo na carência geral de suprimentos causada pela Segunda Guerra Mundial.
A descoberta gerou um frenesi generalizado na ilha.
Naquela mesma noite, enquanto os náufragos dormiam, teve início uma das mais peculiares ações comunitárias que se tem notícia na história do Reino Unido: o resgate, silencioso e sincronizado, das caixas de uísque que jaziam nos porões do SS Politician por todos os moradores da ilha – inclusive pacatas donas de casas, que não pensaram duas vezes na hora de aderir ao butim etílico coletivo.
Usando até velas para iluminar as pedras da costeira, e recolhendo o máximo possível de caixas a cada incursão aos restos do navio, os habitantes de Eriskay passaram a madrugada surrupiando garrafas e as escondendo na ilha, antes que o dia amanhecesse e os tripulantes despertassem.
Quem não conseguiu chegar ao navio, passou a noite espreitando os vizinhos, para ver onde eles escondiam as garrafas – e depois foram lá capturá-las, num típico caso de saque aos saqueadores.
Mas os moradores da ilha não pensavam dessa forma.
Tampouco consideravam o ataque aos porões do navio como sendo um saque.
Para eles, não havia nada de ilegal em “resgatar” o que havia chegado pelo mar.
Encaravam o uísque como sendo uma dádiva, que, do contrário, estaria fadada a desaparecer no fundo do mar, junto com o navio.
E ao se apoderarem das garrafas, julgavam estar fazendo apenas o “salvamento” de parte da carga, ainda que em favor apenas deles próprios.
No entanto, o chefe da agência alfandegária da região não pensava assim.
Na manhã seguinte, ao saber do saque comunitário perpetrado pelos moradores da ilha, ele acionou a polícia.
Mas não por roubo de carga, como seria de se imaginar, e sim por sonegação fiscal, já que aquele uísque estava sendo exportado e, portanto, isento de pagamento de imposto apenas se fosse consumido fora do Reino Unido – e não numa ilhota da própria Escócia.
Embora estapafúrdio, o argumento convenceu a polícia, que seguiu para ilha, embora alguns policiais estivessem tão interessados em uma daquelas garrafas quanto os próprios saqueadores.
E os saques continuaram.
Nas noites subsequentes, enquanto toda a população da ilha brincava de gato e rato com a polícia, garrafas e mais garrafas de uísque eram subtraídas do navio e escondidas nos mais diferentes pontos da ilha – dentro de grutas, chaminés, colchões ou enterradas em qualquer canto, antes que o dia amanhecesse e a polícia chegasse.
Mas o problema foi que os saqueadores começavam a beber durante o próprio saque e, bêbados, depois não se lembravam onde haviam escondido as garrafas, o que fez com que muitas se perdessem para sempre.
A farra durou semanas, durante as quais muitos moradores de Eriskay conviveram com porres homéricos.
E não terminou nem quando o chefe alfandegário, farto de ser ludibriado pelas artimanhas dos ilhéus, mandou explodir uma parte do casco do navio, para que ele afundasse de vez – o que, de fato, aconteceu.
Ainda assim, durante um bom tempo, garrafas cheias de uísque foram dar nas praias de Eriskay, e outras foram resgatadas por mergulhadores, o que persiste até hoje.
Vira e mexe, uma nova garrafa emerge dos restos do SS Politician e atinge valores espantosos em leilões na Inglaterra, apesar dos alertas de que, talvez, a bebida não possa mais ser consumida, porque uísques envelhecem em barris, não em garrafas, muito menos após oito décadas no fundo do mar.
Quando isso acontece, a garrafa recuperada ganha o nome de “Whisky Galore” (algo como “Uísque em Abundância”), mesmo título de um livro escrito por um morador da ilha sobre o caso, que, depois, foi transformado em filme e musical de sucesso no Reino Unido, e narra a bem-humorada história de como os espertos moradores de Eriskay passaram dias driblando a polícia em troca de uma boa dose de uísque.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | nov 18, 2022
Ao ser lançado ao mar, em 1921, o Kobenhavn era o maior veleiro do mundo.
Media 354 pés de comprimento, deslocava 4 200 toneladas e tinha cinco gigantescos mastros.
Somadas, suas velas cobriam uma área equivalente à de três campos de futebol e pesavam oito toneladas.
Além disso, o superveleiro possuía casco de aço e, entre outros recursos que ainda eram novidades na época, um poderoso motor, movido a óleo diesel, para quando o vento não fosse forte o bastante para movimentá-lo.
Era um barco excepcional, feito para transportar grandes quantidades de carga em longas viagens, e, ao mesmo tempo, treinar jovens marinheiros para a então poderosa marinha mercante dinamarquesa, a quem o barco pertencia – como, aliás, seu nome, “Copenhague”, em português, nome da capital da Dinamarca, deixava evidente.
O Kobenhavn era motivo de orgulho de um país inteiro.
No dia do seu lançamento, foi visitado por cerca de 10 000 pessoas, entre elas, o próprio Rei e a Rainha da Dinamarca.
Em seguida, partiu para a sua travessia inaugural, que foi logo uma volta ao mundo, que durou mais de um ano.
Depois disso, o imponente barco passou a fazer viagens frequentes à América do Sul e Austrália, usando a velha rota pelas altas latitudes do planeta, apelidada pelos marinheiros de “40 Rugidores”, por causa do seu vento abundante, constante e poderoso, que passa o tempo todo “rugindo” sobre os barcos.
E foi em algum ponto desta região que tudo aconteceu.
Mas nunca se soube o quê?
Em certo momento entre o final de 1928 e o início de 1929 (nem a data pode ser fixada com precisão), o robusto, resistente e gigantesco Kobenhavn desapareceu completamente no mar, sem deixar vestígio algum – sequer detritos na superfície.
Nada, absolutamente nada do imenso veleiro jamais foi encontrado.
A começar pelos corpos dos seus 60 tripulantes, 54 deles jovens cadetes dinamarqueses, com média de 17 anos de idade.
Tudo o que se soube sobre o trágico destino do Kobenhavn é que ele partiu do porto de Buenos Aires, rumo à Austrália, em 14 de dezembro de 1928, sem nenhuma carga, porque seu comandante, o também jovem capitão Hans Ferdinand Andersen, de apenas 35 anos de idade, tinha ficado cansado de esperar que a burocracia argentina liberasse as mercadorias a serem embarcadas.
Para garantir a estabilidade do barco, ele, então, colocou 700 toneladas de areia nos porões, para servir de lastro para a longa viagem.
Além da carga não embarcada, outro contratempo – este positivo – marcou a partida do Kobenhavn de Buenos Aires.
Na véspera, um dos cadetes precisou retornar à Dinamarca, por motivos particulares.
Com isso, ele tornaria o único “sobrevivente” do veleiro, e, mais tarde, seus depoimentos sobre as virtudes do barco e a segurança que ele passava aos tripulantes ajudariam a tornar o desaparecimento do Kobenhavn ainda mais intrigante.
Como um barco tão moderno e evoluído poderia ter afundado e desaparecido por completo?
Uma semana após partir de Buenos Aires, quando navegava a cerca de 1 000 milhas da costa da Argentina – e quase a mesma distância da isolada ilha de Tristão da Cunha, no meio do Atlântico Sul -, o veleiro dinamarquês fez aquele que seria o seu último contato com o mundo exterior.
Ao se comunicar com o cargueiro norueguês William Blumer, que passava pela região, o capitão Andersen não reportou nenhum problema pelo rádio e seguiu em frente, rumo à Austrália – onde, no entanto, jamais chegou.
A travessia, embora longa e por uma rota famosa pelos ventos violentos, estava prevista para transcorrer sem maiores contratempos, porque era verão, época imune às grandes tempestades nas altas latitudes, que só costumam acontecer no inverno.
Se tudo desse certo, o Kobenhavn chegaria à Austrália após um período entre 42 e 55 dias de mar, e, de lá, retornaria à Europa, completando assim mais uma volta ao mundo.
Mas não foi o que aconteceu.
No começo, ninguém estranhou o atraso nem o silêncio.
Embora o Kobenhavn tivesse um ótimo equipamento de rádio de longo alcance, outra quase novidade na época, seu comandante costumava passar longos períodos sem se comunicar com terra firme.
Mas, quando o calendário indicou um mês inteiro de atraso da data que ele deveria ter chegado à Austrália, as autoridades dinamarquesas resolveram dar início às buscas.
Começaram fazendo contato com outros navios que tinham feito aquela rota, na mesma época.
Dois deles, o cargueiro inglês Horatius e o alemão Heidelberg, afirmaram que não havia ocorrido nada de anormal nas suas travessias, sequer tempestades, salvo a presença de um ou outro iceberg distante.
E foi este detalhe – a presença de icebergs na rota, algo, no entanto, já esperado naquelas latitudes tão ao sul – que ajudaria a tecer a primeira e, até hoje, mais provável explicação para o sumiço do barco dinamarquês e seus infelizes jovens tripulantes.
De acordo com os defensores da tese de colisão com um iceberg, o Kobenhavn, tal qual o Titanic, 16 anos antes, teria atingido com tamanha violência um imenso bloco de gelo, muito possivelmente quando navegava à noite, que seu naufrágio poderia ter sido instantâneo – tão rápido que não teria dado tempo sequer de enviar um pedido de socorro pelo rádio de longo alcance.
A mesma explicação caberia para justificar o não pedido de socorro também no caso da segunda hipótese levantada para o desaparecimento do gigantesco barco: a de que fortes ventos vindos da Antártica o tivessem feito capotar e afundar.
Mesmo assim, considerando que o mar subantártico é um dos mais remotos do planeta, o que dificultaria a visualização de eventuais vestígios e náufragos pelos demais navios, mas que a região, embora erma, possui algumas ilhas, para onde os sobreviventes poderiam ter seguido em botes salva-vidas, os dinamarqueses deram início a uma grande operação de busca em toda a região.
De certa forma, o orgulho do país estava em jogo.
Bem como a vida de meia centena de jovens adolescentes.
O desaparecimento misterioso do Kobenhavn chocara a Dinamarca.
E o mundo.
Imediatamente, navios foram despachados para reconstituir a rota completa da viagem do grande veleiro e visitar todas as ilhas inóspitas e desabitadas ao sul dos oceanos Atlântico e Índico, como Goughm, Kerguelen, St. Paul, Prince Edward, Amsterdam e Crozet – esta, considerada um dos locais mais remotos da Terra.
Mas nada foi encontrado.
Mesmo nas ilhas onde haviam “depósitos para náufragos”, abrigos construídos para eventuais sobreviventes de naufrágios, os estoques de alimentos lá deixados seguiam intactos.
Nenhum tripulante do Kobenhavn chegara a nenhuma delas.
Isso era certo.
Mas o que ninguém sabia explicar era por que nenhum vestígio do enorme barco surgia no mar.
Os dinamarqueses não aceitavam que uma embarcação robusta e grandiosa como aquela pudesse ter sido simplesmente engolida pelo mar – de certa forma, a mesma soberba que vitimara o Titanic, anos antes.
Isso, no entanto, poderia ser explicado por uma metódica e obsessiva rotina que havia a bordo do Kobenhavn: a de manter tudo bem preso e amarrado.
Especialmente naquela rota, sabidamente sujeita a fortíssimos ventos.
Mais tarde, esse procedimento seria confirmado pelo cadete que só escapou com vida do naufrágio porque voltou para casa um dia antes da partida do barco de Buenos Aires.
Durante um par de meses, as buscas pelo veleiro desaparecido levaram as equipes a locais que, até então, jamais haviam sido visitados.
Mas não nenhum vestígio do barco ou dos seus infelizes ocupantes foram encontrados.
Começaram, então, a surgir boatos e pistas falsas por todos os lados.
Em abril de 1929, uma notícia chegou aos ouvidos das autoridades navais dinamarquesas.
Um missionário inglês garantia ter visto um grande veleiro, “de cinco mastros”, navegando erraticamente próximo à ilha de Tristão da Cunha, no dia 21 de janeiro daquele ano.
A data batia com período em que o Kobenhavn sabidamente navegava no Atlântico Sul, já que era a mesma daquele contato, via rádio, com o cargueiro norueguês William Blumer.
Mas o barco em questão, não.
Naquela data, o barco que o missionário viu nas imediações de Tristão da Cunha era o também grande veleiro finlandês Ponape, que chegou à ilha exatamente naquele dia, como comprovaram, mais tarde, os registros de navegação do barco.
Mas a prova definitiva de que não se tratava do Kobenhavn veio de um detalhe inquestionável: o Ponape possuía apenas quatro mastros – e não cinco, como equivocadamente contara o missionário.
Nos meses subsequentes, novas pistas não confiáveis seguiram pipocando nas mais diferentes regiões.
A última investigação foi a de um estranho bote encontrado em uma praia deserta da costa sudoeste da África do Sul, com alguns esqueletos humanos.
Uma equipe foi enviada ao local, mas ficou constatado que, pelo tipo de embarcação, aquele bote nada tinha a ver com o Kobenhavn – embora jamais se tenha sabido a quem pertenceram aquelas ossadas.
As buscas seguiram por quase um ano, até que o governo da Dinamarca, resignado, declarou o Kobenhavn como oficialmente perdido.
E um inquérito foi instaurado.
Mas sua conclusão, após meses de análises e audiências, especialmente com o cadete que escapou por pouco de desaparecer também, foi a mesma que todo velho marinheiro sabia desde o início: o mar havia engolido o grande barco, sem deixar nenhuma pista, gerando um mistério que se tornou eterno: o que será que aconteceu com o maior veleiro do início do século passado?
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | nov 9, 2022
Em 1963, um circo americano resolveu expandir seus negócios e comprou um velho navio cargueiro, o Fleurus, já com quase 40 anos de uso.
O objetivo era levar o circo inteiro a bordo do precário navio (inclusive os animais que faziam parte dos espetáculos), acabando assim com os complicados transportes terrestres, e fazendo apresentações de porto em porto.
Foi o primeiro navio-circense que se tem notícia.
E teria sido uma boa ideia, não fosse o que aconteceu logo na sua viagem de estreia.
Naquele mesmo ano de 1963, apesar de seu péssimo estado de conservação, o Fleurus partiu do porto de Nova York com destino à cidade de Yarmouth, na costa Leste do Canadá, abarrotado de bichos.
Mais parecia uma Arca de Noé, tal a quantidade de elefantes, zebras, girafas, ursos, macacos, leões e outros animais, alguns em jaulas, outros soltos no próprio convés.
A viagem foi uma sucessão de problemas, por conta do mau estado do navio, que quebrou diversas vezes no caminho.
Quando o Fleurus finalmente chegou à pequena Yarmouth, foi recebido com festa pelos moradores e alívio pelos animais e tripulantes.
Mas toda aquela alegria durou pouco.
No dia seguinte, antes mesmo de o circo desembarcar, o navio começou a pegar fogo, por causa de um curto-circuito na casa de máquinas, quando já estava parado no porto.
Os bombeiros chegaram rapidamente e a tripulação escapou sem maiores riscos.
Mas o verdadeiro problema era outro: como livrar das chamas todos aqueles animais selvagens, e, ainda por cima, assustados com o fogo?
Graças à coragem dos bombeiros, jaulas foram sendo retiradas do navio com um guindaste, mas sob muita tensão, porque os bichos estavam enfurecidos.
Até que, em certo momento, uma das jaulas despencou do guindaste, abriu ao bater no chão, e um leão saiu correndo pelo porto, para pânico dos moradores da cidade, que, chocados, passaram a testemunhar aquele insólito espetáculo: um leão solto nas ruas do Canadá!
O animal foi logo recuperado pelo seu treinador, mas a população trancou-se em casa e armou-se com rifles, para o caso de outros bichos escaparem, já que o plano dos bombeiros era ir transferindo, aos poucos, os animais menos ferozes para as fazendas nos arredores da cidade.
Com isso, as ruas de Yarmouth viraram uma espécie de circo a céu aberto, com tigres na praça, orangotangos na porta da igreja e girafas diante das casas.
Três elefantes mais mansos, no entanto, foram embarcados em um caminhão, que o levaria para outro circo, em uma cidade vizinha.
E foi aí que começou a outra parte tragicômica daquela história.
No caminho, por conta da pressa do amedrontado motorista, que queria chegar logo ao destino e se livrar daquela incômoda carga, aconteceu um acidente, que matou dois elefantes, mas permitiu que o terceiro, uma fêmea, chamada Shirley, escapasse e invadisse as fazendas da região – agora, havia também um elefante africano solto em solo canadense!
Durante dias, os assustados fazendeiros de Yarmouth viram a elefanta glutona destruir boa parte das plantações, e, com a ajuda da Polícia, criaram uma força-tarefa para deter o paquiderme.
Até que, finalmente, Shirley foi capturada e levada de volta para a cidade.
Como o outro circo já havia partido – e o dela, queimado pelo incêndio, não existia mais -, a solução foi embarcar a elefanta em um vagão de trem e enviá-la de volta aos Estados Unidos, para um abrigo de animais no Tennessee – onde Shirley chegou semanas depois.
Ali, ela viveu ainda muitos anos mais, sob o jocoso título de “Mascote de Yarmouth”, cidade que nunca mais esqueceu o dia em que o Fleurus atracou no porto, anunciando que “o circo chegou!” e trazendo com ele uma enorme trapalhada.
Mas poderia ter sido muito pior.
Como aconteceu com o cargueiro americano Royal Tar, mais de um século antes.
Em 1836, quando navegava entre a província de New Brunswick, também no Canadá, e Maine, na costa leste americana, com uma carga que incluía diversos animais de circo, ele também começou a pegar fogo.
Só que o Royal Tar estava no mar, e não no porto, como o Fleurus.
Como o fogo não conseguia ser controlado, seu comandante ordenou que a tripulação abandonasse a embarcação.
Os tripulantes, então, puseram os dois botes salva-vidas que o navio tinha na água e embarcaram.
Mas um deles não foi além de míseros metros do navio em chamas.
Apavorado com o fogo, um elefante da tropa circense arrebentou a jaula onde estava, e, sem outra alternativa, saltou pela amurada do navio.
O desfecho não poderia ter sido mais dramático: animal caiu bem em cima de um dos botes.
Parte dos ocupantes do pequeno barco morreu na hora, vítima da improvável queda de um elefante sobre suas cabeças, em pleno oceano.
Nunca mais os marinheiros americanos duvidaram da velha máxima que diz que tudo é possível de acontecer no mar.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 (cada um deles com 200 histórias), que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor
Foto: FIREFIGHTERS MUSEUM OF NOVA SCOTIA COLLECTION

por Jorge de Souza | nov 3, 2022
Quase seis meses atrás, no dia 4 de agosto de 2022, um rebocador holandês de grande porte partiu do porto do Rio de Janeiro levando a reboque aquele que já foi o maior navio militar brasileiro: o ex-porta-aviões São Paulo, que estava parado havia cinco anos.
Destino: um estaleiro em Aliaga, na Turquia, onde o grande navio, de 266 metros de comprimento, seria desmontado e transformado em sucata, após ter sido comprado pela empresa turca Sok Denizcilikve Tic, através de um leilão promovido pela Marinha do Brasil.
Teria sido o fim de uma novela que se arrastava há anos, desde que a reforma do velho porta-aviões, orçada em cerca de R$ 1 bilhão, fora considerada inviável e substituída pelo leilão.
Mas não.
Desde então, uma sucessão de absurdos (a começar pelo fato de que ele foi e voltou à Europa, a reboque, à toa) transformou o destino do ex-porta-aviões brasileiro em um típico pastelão.
A decisão de mandar o comboio dar meia volta e retornar ao Brasil, um mês depois de ter partido do Rio de Janeiro, quando as duas embarcações já estavam prestes a cruzar o Estreito de Gibraltar para chegar à Turquia, foi tomada depois que o governo turco, pressionado por ambientalistas, proibiu a entrada do porta-aviões brasileiro no país, por não se saber ao certo quanto de material tóxico poderia haver dentro do navio – embora um inventário feito ainda no Brasil tivesse atestado a presença de 9,6 toneladas de amianto a bordo, material cancerígeno mundialmente condenado.
Contudo, desde o princípio, especialistas contestavam essa quantidade de amianto atestada no navio, alegando que seria muito mais, uma vez que uma embarcação idêntica, o porta-aviões francês Clemenceau, desmanchado em 2009, continha nada menos que 650 toneladas desse material nas suas tubulações.
A empresa contratada para fazer o levantamento se defendeu dizendo que a inspeção fora feita por “amostragem”, e que, efetivamente, só vistoriou 12% do navio, o que foi aceito pelas autoridades.
Como se não bastasse isso, há suspeitas de que o interior do porta-aviões também possa conter outras substâncias tóxicas, além de componentes radioativos, o que só agravaria o problema, deixando ainda mais clara a negligência no inventário que foi feito do navio, antes da sua partida do país.
Surpreendido com a decisão turca, o Ibama, que havia autorizado a exportação da embarcação, mandou que ela fosse trazida de volta ao Brasil, embora o comboio já estivesse do outro lado do oceano – um fato inédito na história da navegação brasileira.
Começava ali a segunda parte do festival de absurdos no qual se transformou a venda do porta-aviões brasileiro para desmanche na Turquia.
E não parou por aí.
Como estava proibido de seguir em frente, já que havia deixado o Brasil sem a devida inspeção, não restou alternativa ao rebocador a não ser dar meia volta e cruzar novamente o Atlântico, no sentido oposto, arrastando aquele inerte porta-aviões, que fora vendido sem os motores nem condições de navegar por conta própria – uma epopeia de cerca de 7 000 quilômetros para ir, e outro tanto desses para voltar.
No total, entre ida e volta, o massivo comboio passou dois meses índo e voltando no Atlântico, ao custo estimado de 30 000 dólares, ou cerca de R$ 160 000, por dia de navegação – uma despesa de cerca de quase R$ 10 milhões, mesmo valor que a empresa turca Sok Denizcilikve Tic pagou pelo porta-aviões no leilão, o que, no entanto, para alguns especialistas, teria sido a primeira irregularidade deste caso, já que o navio valeria bem mais que isso.
Mas o festival de irregularidades no caso do transporte do porta-aviões começou logo após a partida do comboio do Rio de Janeiro, no início de agosto.
Naquele mesmo dia, uma liminar da justiça brasileira, expedida em favor de um pedido impetrado pelo advogado Alex Christo Bahov, que representa a empresa Cormack, ex-parceira da Sok Denizcilikve Tic no Brasil (mas que rompeu relações com os turcos logo após o leilão, por divergências comerciais), determinou que o porta-aviões fosse trazido de volta ao porto, “até que o Ministério Público se manifestasse sobre a presença de substâncias perigosas a bordo, e eventuais malefícios que isso pudesse ter trazido aos operários que participaram da preparação do navio para a sua última viagem”.
A ordem, no entanto, foi ignorada pelos responsáveis pelo comboio, e, mais tarde, revogada pela própria justiça, mediante a alegação da Marinha do Brasil de que o porta-aviões já estava fora dos limites do mar territorial brasileiro quando a liminar foi expedida, o que foi veemente contestado pelo impetrante do pedido.
Só um mês depois, quando o governo da Turquia barrou a entrada do comboio no país – e o Ibama cancelou a autorização de exportação do navio –, é que aquela primeira ordem de retorno começou a surtir efeito.
Mesmo assim, não totalmente.
Antes que o velho porta-aviões, temporariamente salvo do desmanche, voltasse a tocar o solo brasileiro, houve um novo capítulo na inacreditável saga daquela jornada: a proibição de om comboio retornar ao mesmo porto de onde ele partira, o do Rio de Janeiro – e por ordem da própria Marinha do Brasil, que vendera o navio aos turcos e o entregara sem a devida averiguação e documentação.
Quando o lento comboio já estava quase chegando de volta à cidade, uma ordem do órgão máximo da navegação brasileira determinou que ele desse novamente meia volta, e subisse, uma vez mais, a costa brasileira, até o porto de Suape, no litoral de Pernambuco, distante mais de 1 500 quilômetros.
O motivo era uma vistoria, que, conforme determina as leis da navegação marítima, precisava ser feita no navio, após tanto tempo sendo rebocado no mar.
No entanto, não foi explicado por que isso não poderia ser feito no Rio de Janeiro.
Contudo, uma semana depois, ao chegar ao porto indicado, o comboio também não pode atracar.
Por recomendação da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco – CPRH, que temia a contaminação da região pelo que poderia haver no interior do navio moribundo, a administração de Suape não deu autorização para que o porta-aviões entrar no porto, a fim de ser vistoriado.
Em vez disso, determinou que o comboio ficasse parado a 12 milhas da costa, aguardando que a vistoria fosse feita lá mesmo, o que só aconteceu dez dias depois.
Nela, ficou constatado que a flutuabilidade do navio não fora comprometida pela longa – e inútil – jornada de ida e volta no Atlântico, mas foi recomendado que o ex-porta-aviões fosse colocado em dique seco, para melhor averiguação da integridade do seu casco, o que obviamente implicaria em atracá-lo em algum porto.
Mas, por decisão da Justiça, que atendeu a um pedido do órgão de meio ambiente de Pernambuco, o porto de Suape não quis recebê-lo.
E, durante mais de três meses, o patético comboio, formado pelo rebocador e o ex-porta-aviões, ficou zanzando no mar, diante do porto pernambucano, sem poder atracar.
Até que, esta semana, a Marinha emitiu uma ordem para que o comboio se afastasse da costa, por temer risco de naufrágio do velho navio, e escoltou o comboio para o alto-mar.
Mas a empresa dona do rebocador, que havia sido contratada pelo comprador do navio – e que reclamava não estar mais recebendo pelo serviço -, se recusou a continuar arrastando o porta-aviões no mar e decidiu partir, deixando para a Marinha do Brasil a função de rebocar o porta-aviões dali em diante, o que passou a ser feito por um navio da corporação.
A novela do ex-porta-aviões brasileiro que não tem onde parar ainda não terminou.
E os próximos capítulos podem ser ainda mais surpreendentes.
Gostou desta história?
Leia muitas outras assim nos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | out 20, 2022
Em junho de 1994, uma violenta tempestade desabou sobre o mar da Nova Zelândia.
Durou dias a fio e foi tão marcante que acabou batizada de “Tempestade da Rainha”, por coincidir com as comemorações do aniversário da monarca inglesa Elizabeth II.
No meio desta longa e furiosa tormenta, estava um barco que simplesmente não deveria estar lá: o Heart Light, um catamarã tripulado por um estranho casal.
Os americanos Darryl e Diviana Wheeler eram esotéricos até o último fio de cabelo e navegavam em busca de “experiências sensoriais” em locais remotos, onde pudessem “entrar em contato com seres espaciais, sem interferências da civilização”, como costumavam explicar aos curiosos em geral.
Ela, em especial, acreditava receber instruções cósmicas de uma voz chamada Sage, que ditava tudo a bordo do barco – inclusive a hora de partir e para onde ir.
Na Nova Zelândia, o casal passou a oferecer cruzeiros de “Contatos Criativos” para outros adeptos do esoterismo.
E foi durante um desses cruzeiros esquisitos que tudo aconteceu.
Ignorando as previsões meteorológicas, que indicavam uma forte tempestade a caminho, o Heart Light partiu para o alto-mar, seguindo as instruções da tal voz, que apontava aquela tormenta como sendo uma oportunidade de “migrar para outra dimensão”.
Portanto, uma tempestade perfeita.
Mas o que se seguiu nada teve de bom.
Apesar da completa deteriorização das condições de navegação, o casal, acompanhado de outros tripulantes esotéricos, seguiu avançando de encontro a tempestade, em completo estado de graça.
Eles acreditavam que, no centro da tal tormenta, encontrariam um “portal” que os conduziria a uma nave espacial, e nela embarcariam para uma espécie de Nirvana cósmico.
Na medida em que penetravam na tempestade, as ondas foram ficando cada vez mais apocalípticas, e os ventos sopravam a furiosos 150 km/h.
Mas aquela tripulação de malucos, que navegava regida por cristais em vez de cartas náuticas, não desanimava.
Ao contrário, vibrava.
Sobretudo Diviana, que estava convencida de que o que parecia ser o fim do mundo era, na verdade, o início de outra vida – e “Sage confirmava isso”, como dizia aos demais ocupantes do barco.
Bastaria, segundo ela, atingir um certo ponto no mar, “sobre um templo submerso feito de cristais”, para embarcar na tal viagem na nave espacial.
O Heart Light era jogado para todos os lados nas ondas, mas eles não se importavam.
A cada novo risco de naufrágio, acreditavam estar mais perto “do ponto de passagem”.
Até que, pelo rádio, veio a volta a realidade.
Um grande barco pesqueiro, que estava próximo deles, viu a forma suicida que o Heart Light navegava e ofereceu ajuda.
Eles recusaram.
Mas o outro barco não se deu por satisfeito e ficou insistindo no resgate.
A troca de mensagens pelo rádio durou quase uma hora.
Até que, irritado, o experiente comandante do pesqueiro ameaçou chamar a Guarda Costeira.
Só assim os Wheeler e seus passageiros interromperam o devaneio e concordaram em passar para o outro barco, bem maior e mais seguro.
A operação foi delicada, mas bem sucedida.
Uma vez a bordo, ao confirmar suas suspeitas de que àquele grupo não passava de um bando de loucos irresponsáveis, o comandante do pesqueiro, amparado nas regras da segurança da navegação, que prega que um barco à deriva é sempre um risco para as demais embarcações, resolveu prestar um duplo serviço a comunidade náutica e afundar o Heart Light, com uma trombada.
Com isso, impediu também que os Wheeler voltassem a navegar, pelo menos por um tempo – até que juntassem dinheiro para comprar outro barco ou tomassem juízo, duas coisas que jamais se soube se foram feitas.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | out 19, 2022
Na manhã de 4 de julho de 1945, o velho cruzador Bahia, um veterano com quase 40 anos de serviços prestados a Marinha do Brasil, estava placidamente parado sobre a Linha do Equador, a cerca de 500 milhas náuticas da costa do Rio Grande do Norte, nas proximidades dos rochedos São Pedro e São Paulo.
Era o seu posto designado de trabalho, conhecido como Estação 13.
Dali, ele prestava auxílio, via rádio, aos aviões americanos, que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, retornavam dos combates na Europa, através do “Corredor Dakar-Natal”, o trecho mais estreito da travessia do Atlântico.
A bordo do cruzador brasileiro, haviam 372 marinheiros e oficiais, sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Garcia D’Ávila Pires de Carvalho e Albuquerque, além de quatro americanos rádio-telegrafistas, que haviam embarcado justamente para cuidar dos contatos com os aviões, na medida em que eles fossem se aproximando daquele ponto ermo no Atlântico.
Mas, como isso só acontecia ocasionalmente, o comandante Garcia D’Ávila, como era praxe na Marinha, decidiu promover algumas sessões de exercícios de tiro, para treinar os artilheiros e entreter os marinheiros – que lotaram o convés, para assistir ao espetáculo.
A pratica do exercício consistia em lançar objetos no ar e no mar, para que os operadores das metralhadoras aferissem suas pontarias – nada mais natural, em se tratando de uma nave de guerra.
Mas o que aconteceria naquela manhã jamais tivera precedentes.
E ficaria marcado para sempre na história da Marinha Brasileira.
No exato instante em que o operador de uma das metralhadoras de 20 mm do navio apertou o gatilho, uma violenta explosão na popa fez o Bahia chacoalhar inteiro, ao mesmo tempo em que uma colossal quantidade de água começou a jorrar casco adentro.
Naquele instante, como mais tarde seria estimado, teriam morrido mais de 100 marinheiros, já que havia uma grande concentração da tripulação no convés, acompanhando os exercícios de tiro.
Instantaneamente, o grande navio, carinhosamente chamado pelos seus tripulantes de “velhinho”, e tecnicamente obsoleto, começou a erguer a proa e afundar a popa, seriamente danificada pela estranha explosão, enquanto os seus sobreviventes corriam de um lado para outro, tentando baixar o maior número possível de botes salva-vidas ao mar.
Dezessete deles foram arriados, mas escassamente ocupados, porque não houve tempo para o embarque de mais marinheiros.
O Bahia, de 122 metros de comprimento e 3 100 toneladas de deslocamento, desapareceu em pouco mais de quatro minutos, após erguer sua proa na vertical, como se tentasse respirar, e afundar feito uma vareta de ferro, levando com ele sua tripulação quase inteira, além dos quatro operadores de rádio, que se tornariam os últimos americanos mortos no Atlântico por conta da Segunda Guerra Mundial – e, ironicamente, na data nacional dos Estados Unidos.
Em número de mortos, foi a maior tragédia da história naval brasileira.
Os sobreviventes, contudo, estavam otimistas.
O navio havia afundado num ponto sabido pela corporação, e exatamente sobre o corredor aéreo utilizado pelos aviões que chegavam da Europa.
Logo, imaginavam, um deles se aproximaria, estranharia a ausência do cruzador na Estação 13, veria as balsas dos náufragos no mar e comunicaria o fato as autoridades.
Mas não foi o que aconteceu.
Durante dias, eles vagaram à deriva, levados pelas correntes marítimas e separados uns dos outros, lutando contra a fome, a sede e os tubarões, que não davam sossego em torno dos botes.
Mas só no terceiro dia, quando o também cruzador Rio Grande do Sul chegou à Estação 13, para render o Bahia, que estava estranhamente incomunicável há dias, e não encontrou o navio, é que foi dado o alerta de naufrágio e começaram as buscas.
Naquele mesmo dia, foram encontrados os primeiros náufragos, em oito botes – nove deles mortos, pelos ferimentos que haviam sofrido na explosão e naufrágio do navio.
E, no dia seguinte, graças a perspicácia de um jovem tripulante do cargueiro inglês Balfe, quase outros 30.
O último sobrevivente, no entanto, só foi resgatado nove dias depois, já quase morto.
E outros marinheiros que já haviam sido resgatados, morreram depois, a caminho do hospital.
No total, dos 372 tripulantes que havia no Bahia naquela manhã, apenas 36 sobreviveram.
E nenhum deles tinha dúvidas sobre o que havia provocado aquela tragédia: um absurdo erro de pontaria.
Segundo os sobreviventes, a explosão e o consequente naufrágio do cruzador brasileiro fora fruto da combinação da imperícia de um dos operadores das metralhadoras, durante aquele exercício de tiro (ou de algum defeito na mira do equipamento), com a indevida localização do estoque de cargas de profundidade que o Bahia transportava, já que, embora a guerra contra a Alemanha houvesse oficialmente terminado, ainda havia o risco de topar com algum submarino nazista nas águas por onde ele navegaria.
Em vez de serem colocadas em paióis fechados, aquelas sensíveis bombas submarinas foram alocadas a céu aberto, no convés de popa do velho cruzador, que, de tão antigo e precário, não tinha um compartimento apropriado para o transporte de uma carga tão letal.
Assim sendo, quando o operador da metralhadora apontou para o mar, na direção da popa do navio, e o tiro saiu pela culatra, atingindo as bombas de profundidade, o Bahia simplesmente voou pelos ares, numa inédita – e patética – autoexplosão.
Mas, para alguns, esse, talvez, não tenha sido o real motivo da tragédia…
Segundo alguns pesquisadores, como o espanhol Juan Salinas e o argentino Carlos De Nápoli, que escreveram um livro sobre a suposta fuga de altos oficiais do exército nazistas para a Argentina, ao final da guerra (e, talvez, até do próprio Hitler, cujo suicídio, em 30 de abril de 1945, em Berlim, eles também questionam, já que seu corpo nunca foi encontrado), naquela mesma manhã de 4 de julho, havia um submarino alemão navegando na mesma região onde o Bahia explodiu.
Era o U-530, comandado por Otto Wermuth, que fazia parte do suposto plano de fuga nazista, batizado de Operação Ultramar, juntamente com outro submarino alemão, o U-977 – que também passaria pela região, logo depois.
Segundo os dois pesquisadores, teria sido um torpedo disparado pelo U-530 (que, dias depois, se renderia diante da Base Naval de Mar del Plata, na Argentina, sem todos os projéteis nos disparadores, sem livro de bordo com os registros da viagem, e sem o seu bote de desembarque, após supostamente também ter feito uma misteriosa parada na costa sul argentina, onde desembarcara coisas e pessoas), que teria afundado o cruzador brasileiro, no último ato da chamada Batalha do Atlântico – embora quase ninguém tenha levado essa teoria a sério, já que não havia nem motivo para isso, pois a guerra já havia terminado.
Dias depois, também o U-977 se entregou às autoridades da Argentina, país onde seu comandante, Heinz Schäffer, passaria a viver anos depois, como outros tantos ex-oficiais nazistas.
Apesar disso, deduzir que o cruzador Bahia tenha explodido pela ação de um dos submarinos da chamada Frota Fantasma de Hitler, que, a caminho da Argentina, teria parado para atacar o navio brasileiro, em vez daquele desastrado disparo, como atestaram os seus sobreviventes, sempre pareceu fantasioso demais para ser verdade.
A menos que, por uma absurda coincidência, as duas coisas tivessem acontecido ao mesmo tempo (o impacto de torpedo simultaneamente ao disparo do artilheiro), o que seria ainda mais improvável.
Mas, de toda forma, não impossível.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Quer ler outras histórias? Clique aqui
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

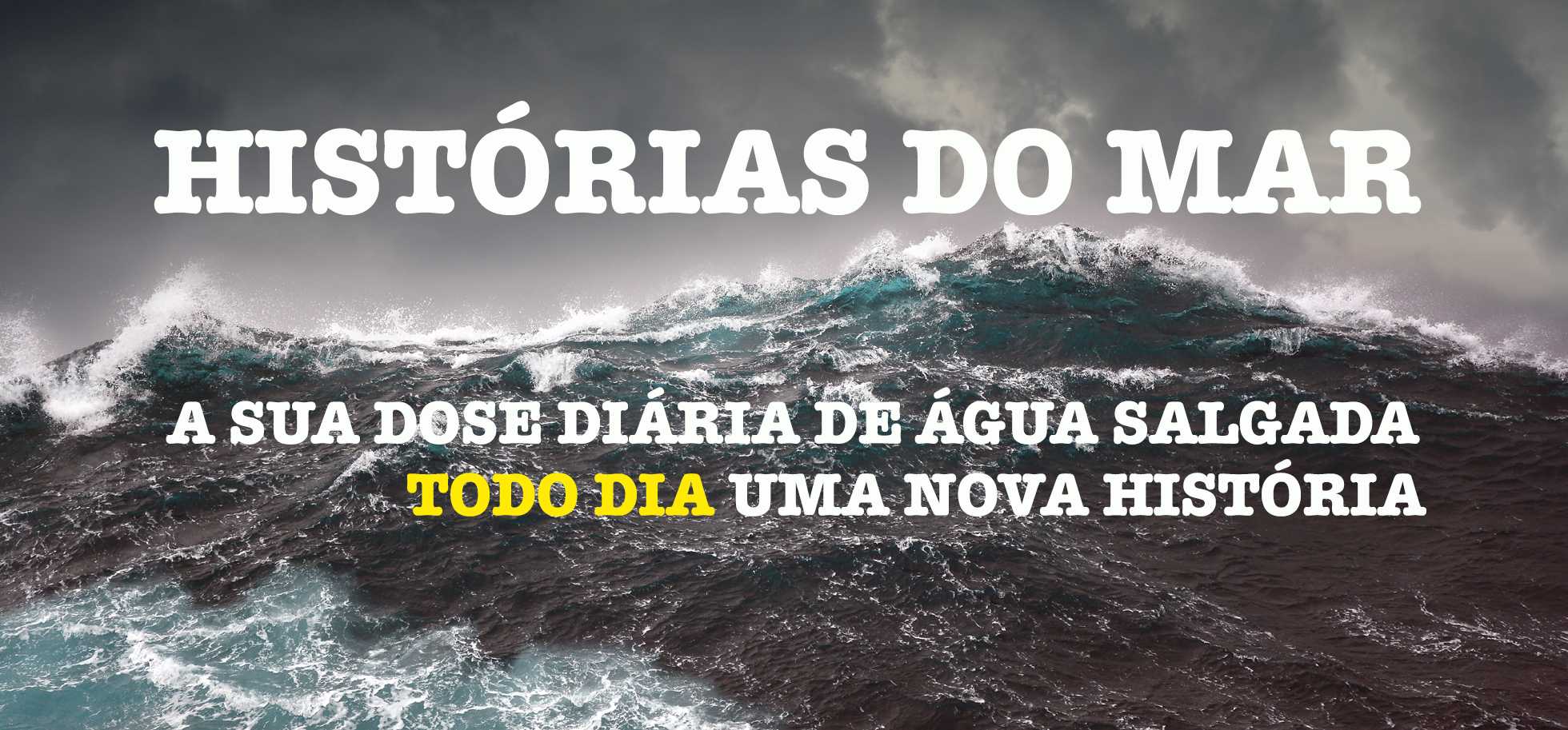






Comentários