O porto de Hamburgo estava particularmente agitado na manhã de 21 de julho de 1939. Entusiasmados com a boa performance da economia alemã, depois da crise desencadeada com o fim da Primeira Guerra, e embalados pelo forte sentimento nacionalista que tomava conta do país nos dias que antecederam o início de um novo conflito mundial, mais de uma centena de passageiros preparava-se para embarcar em um longo cruzeiro de ida e volta à África, a bordo de um dos melhores transatlânticos alemães da época: o Windhuk (“Canto do Vento”, em alemão). O navio era tão luxuoso que tinha uma tripulação quase duas vezes maior do que o número de passageiros: 250 tripulantes, quase todos tão alemães quanto o próprio comandante, Wilhelm Brauer.
A viagem estava prevista para durar 60 dias, com escalas em diversos países da Europa antes de descer até Moçambique, de onde o navio regressaria ao mesmo porto da Alemanha. Mas o Windhuk jamais voltou – embora nenhuma tragédia tenha acontecido naquela viagem. Ao contrário, ela teve um final feliz para todos os tripulantes do navio, mesmo tendo o Windhuk ido parar do outro lado do Atlântico, no porto brasileiro de Santos, cinco meses depois.
Quando, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polonia, dando início a Segunda Guerra, o Windhuk estava tranquilamente atracado no porto da Cidade do Cabo, na África do Sul, com seus passageiros aproveitando as mordomias de bordo, que incluiam uma requintada gastronomia. Mas a ordem era clara: o Windhuk deveria sair imediatamente daquela então colonia inglesa e retornar à Alemanha. Avisados, quase todos os passageiros decidiram desembarcar ali mesmo, ficando a bordo apenas os tripulantes – exceto um deles, que havia saído para passear em terra-firme no seu dia de folga e não conseguiu voltar para o navio a tempo
Às 22 horas do mesmo dia, o navio saiu do porto às pressas e com pouco combustível, o que levou o comandante Brauer a optar por navegar só até a cidade de Lobito, na costa da atual Angola, que nada tinha a ver com o conflito. Ali, ele esperava abastecer o navio e seguir viagem para a Alemanha.
Mas, no precário porto angolano, o Windhuk teve que esperar dois longos meses até que conseguisse um pouco mais de combustível e pudesse voltar ao mar. Confinados no navio, os tripulantes do Windhuk, inocentes garçons, camareiros, engenheiros e marinheiros, todos civis em nada envolvidos com a guerra, não faziam a menor ideia do que se passava na distante Europa. Tampouco o que o destino lhes reservaria dali em diante. Só restava esperar e torcer para que o navio conseguisse, finalmente, partir.
Cinco deles não suportaram a angústia da espera e traçaram um plano para voltar para casa por conta própria, com um dos barcos salva-vidas do navio. Certa noite, colocaram o bote na água e partiram a remo. Dois meses e meio depois – e após receberem a ajuda de um navio português que lhe forneceu mantimentos no meio do caminho -, o grupo foi dar numa praia das distantes Ilhas Canárias, num feito e tanto.
Já o comandante do Windhuk tinha outras preocupações além da fuga de tripulantes e da carência de suprimentos, inclusive comida para tanta gente a bordo, durante tanto tempo: ele não sabia como driblar os navios ingleses que já patrulhavam trechos da costa africana.
No início de novembro, depois de conseguir um pouco de combustível, surgiu uma brecha na patrulha dos ingleses. O Windhuk, então, partiu ainda mais escondido do que da primeira vez, juntamente com outro navio alemão, o Adolf Woermann, que também aguardava uma chance de escapar do cerco dos ingleses aquartelado naquele porto angolano. A bordo, não havia comida suficiente para toda a tripulação na longa a viagem que o Windhuk faria (uma ironia num navio famoso justamente por sua gastronomia), nem tampouco era garantido que o combustível desse para chegar a Alemanha.
Mesmo assim, o comandante Brauer mandou soltar as amarras, apagar todas as luzes do navio e ganhou o mar, seguido pelo Adolf Woermann, que, no entanto, não foi longe. Descoberto pelos ingleses, o outro navio alemão foi atacado e afundado logo após sair de Angola. Já o Windhuk seguiu em frente. Mas nem o seu comandante sabia exatamente para onde. Importante era escapar do cerco.
No afã de driblar os ingleses, o Windhuk navegou em linha reta Atlântico adentro, saindo da rota natural para a Europa e alongando a distância até a Alemanha – um grande problema frente a questão do combustível. Seria, portanto, necessário parar em outro porto, para reabastecer. Mas, qual, se os ingleses patrulhavam praticamente toda a costa africana? Foi quando Brauer teve a ideia de seguir em frente, cruzar todo o oceano e buscar recursos em algum país sul-americano, todos ainda neutros na guerra.
A fim de evitar as rotas mais usadas pelos navios, o comandante do Windhuk decidiu navegar bem mais ao sul do que o habitual. E quase foi parar nas ilhas Malvinas. O acréscimo extra no percurso tornou o nível do combustível ainda mais crítico.
Para economizar, o Windhuk passou a se arrastar no mar, a míseros seis nós de velocidade, quando tinha capacidade de navegar três vezes mais rápido do que isso, em velocidade de cruzeiro. Além disso, para escapar o mais rápido possível da crítica área da costa africana, ele chegou a navegar a 22 nós de velocidade, o que sugou sobremaneira os seus tanques.
A bordo do Windhuk, a situação dos tripulantes era angustiante. Eles não tinham comida, nem destino fixo, tampouco sabiam se o combustível daria para chegar a algum porto seguro. Gastavam os dias vendo o mar passar, lentamente, sob o casco, sem saber para onde estavam indo. Nem o comandante Brauer arriscava um palpite mais certeiro sobre para qual porto seguir. Sem muita convicção, acabou optando por rumar para Baia Blanca, na costa da Argentina.
Mas, para complicar ainda mais as coisas, foi informado dos ataques que o couraçado alemão Graf Spee vinha sofrendo na região e resolveu evitá-la. Foi quando o porto de Santos, na costa brasileira, surgiu como a melhor opção.
O Brasil ainda não havia entrado na guerra e, portanto, era seguro para um navio alemão. Ainda assim, Brauer tomou uma precaução: mandou camuflar o Windhuk com outro nome, outra bandeira e até outra cor no casco, que deixou de ser cinza e virou preto. A pintura, feita com latas de tinta que restavam no porão, aconteceu em pleno mar, durante a própria navegação, e foi uma arriscada epopéia que durou vários dias. Os marinheiros ficavam dependurados sobre a água, com o navio em movimento. Quem caísse estaria perdido, porque o comandante avisara que não haveria como manobrar o navio. Por sorte, ninguém caiu.
O novo nome e a nova “nacionalidade” do Windhuk foi escolhida ao acaso. Como havia alguns asiáticos trabalhando na lavanderia do navio, Brauer optou pelo nome de um navio japonês que costumava visitar o porto para o qual estavam indo, o Santos Maru, e mandou que os tripulantes orientais o escrevessem num pedaço de papel, para ser copiado no casco – bem como a confecção de uma bandeira, algo fácil no caso da japonesa, que se resume a uma bola vermelha sobre fundo branco.
E assim foi feito. Só que os tripulantes eram chineses, não japoneses, e o novo nome do Windhuk acabou escrito com caracteres errados.
Mas ninguém percebeu o erro. Nem mesmo os práticos do porto de Santos, que, ao verem o navio chegando, estranharam apenas o fato de o verdadeiro Santos Maru ter voltado tão rápido, já que havia partido dali dias antes. E, ainda por cima, voltou com duas chaminés em vez de apenas uma.
A confusão foi esclarecida, entre risos e tapinhas nas costas, assim que os funcionários do porto subiram a bordo e deram de cara com uma tripulação de alemães de olhos azuis e não japoneses de olhos puxados. Mas, como o Brasil ainda nada nutria contra a Alemanha, nada aconteceu com eles. Apenas o navio ficou retido, como era praxe nos tempos de guerra. Era o dia 7 de dezembro de 1939 – data que, até hoje, é comemorada pelos descendentes daqueles mais de 200 alemães, que nunca mais quiseram sair do Brasil.
Para os 244 tripulantes do Windhuk, a nova e tranquila vida em Santos passou a ser uma espécie de recompensa pelas privações e temores que passaram durante aquela longa e tensa viagem. Eles ganharam a liberdade de fazer o que bem quisessem, desde que não saíssem do munícipio. Inclusive deixar o navio e ir morar na cidade. Alguns começaram a namorar garotas. Outros se casaram, como os tripulantes Hildegard e August Braak, cuja cerimônia aconteceu no próprio navio e com a presença até do prefeito.
Para os moradores de Santos, aquele grupo de alemães boas-praças nada tinha a ver com as notícias ruins que chegavam da Europa. E não tinham mesmo, porque não passavam de pacíficos marinheiros transformados em vítimas indiretas da guerra. Eles ficaram na cidade por mais de dois anos, em total harmonia com os brasileiros.
A situação só começou a mudar em janeiro de 1942, quando, em resposta ao afundamento de navios brasileiros na costa do Nordeste, o Brasil decretou guerra aos países do Eixo. Imediatamente, todos os tripulantes do Windhuk foram presos, na mesma cidade onde já se sentiam em casa.
Contribuiu também para isso o gesto patriótico de alguns deles, a começar pelo comandante Brauer, de sabotar o próprio navio no porto de Santos. Quando ficaram sabendo que o Windhuk seria confiscado e vendido aos americanos, então já em guerra contra a Alemanha, eles trouxeram sacos de areia, pedra e cimento para dentro do navio e atiraram dentro do seu maquinário, que ficou inutilizado. O objetivo era que o Windhuk não pudesse mais navegar e assim não saísse do Brasil. Mas não foi o que aconteceu.
Rebocado, o navio acabou sendo levado para os Estados Unidos, onde foi recuperado e convertido em navio de combate. Já o destino dos seus tripulantes foi ainda mais improvável.
Depois de passarem uma temporada na Casa de Detenção de Imigrantes, em São Paulo (eles eram tão numerosos que não cabiam na pequena cadeia de Santos), acabaram se transformando nos primeiros ocupantes dos campos de concentração em território brasileiro, aqui chamados de “campos de internação”. E para onde, depois, também foram levados italianos e japoneses.
A bordo de um trem lacrado e com a patética escolta de soldados fortemente armados, os pacatos tripulantes alemães foram divididos em grupos e mandados para cinco destes campos, todos no interior do estado de São Paulo: Bauru, Ribeirão Preto, Pirassununga, Guaratinguetá e Pindamonhangaba, este o maior do gênero no país. Neles, no entanto, a despeito do trabalho por vezes forçado, seguiram gozando quase a mesma liberdade de antes, já que não representavam perigo algum ao país.
No campo de concentração de Pindamonhangaba, em clima de total camaradagem com os guardas, os marinheiros alemães receberam autorização para construir suas próprias casas, criaram galinhas, ordenharam vacas, jogavam futebol contra times que vinham de fora, assavam pães para vender aos visitantes e até saiam para fazer compras na cidade – ocasião em que chegavam a dividir rodadas de cerveja com os próprios guardas que os vigiavam. Também os músicos da orquestra do navio eram frequentemente convidados para tocar em festas na cidade, e os cozinheiros do Windhuk passaram a preparar jantares sofisticados para os oficiais do próprio campo. De presidiários, eles nada tinham.
Na maior parte do tempo, a vida era tão agradável nos campos de internação que o mesmo casal Hildegard e August, que havia se casado quando o Windhuk estava atracado no porto de Santos, resolveu ter um filho ali mesmo. Nasceu assim Carl Braak, o único brasileiro que veio ao mundo dentro de um campo de concentração.
Hoje, ele é o principal convidado nos encontros anuais que os descendentes dos tripulantes do Windhuk, já que todos já morreram, organizam em um restaurante de São Paulo, que não por acaso leva o mesmo nome do navio, sempre no dia 7 de dezembro, data que ele chegou ao Brasil. O último tripulante morreu em 2015.
Nos campos de internação, onde viveram por mais de três anos, os marinheiros do Windhuk se habituaram ainda mais com a vida no país. Quando a guerra terminou, em 1945, o governo brasileiro, sem saber o que fazer com aquele incômodo grupo, deu a eles duas opções: voltar para a Alemanha, arrasada pela guerra, ou ficar de vez no Brasil, com direito a cidadania. Praticamente todos escolheram a segunda opção. Apesar do sotaque carregado, já eram brasileiros de coração.
Em seguida, eles se espalharam por cidades de São Paulo, Santa Catarina Minas Gerais e Rio de Janeiro, e foram trabalhar em diversas áreas. Um deles, chegou a vice-presidência da Coca-Cola no Brasil. Já Hildegard, mãe de Carl, tornou-se uma das maiores especialistas do país em ortóptica, uma área da oftalmologia que trata de desvios oculares. Muitos, porém, preferiram subir a serra que brotava aos pés do campo de internação de Pindamonhangaba e foram trabalhar, como cozinheiros, no recém-criado Grande Hotel de Campos do Jordão, cidade que, até então, era apenas um centro de tratamento para tuberculosos.
Com a experiência culinária que tinham do navio, os alemães do Windhuk transformaram aquele hotel em um centro de excelência gastronômica e foram praticamente os responsáveis por implantar as bases do que viria a ser a estância turística de Campos do Jordão nos dias de hoje. Outro tripulante, porém, preferiu abrir um bar em São Paulo, batizá-lo com o nome do navio, e passar a reunir os antigos companheiros para relembrar as histórias do passado – o precursor do restaurante Windhuk, onde os seus descendentes se encontram até hoje.
Já o navio deixou de existir há muito tempo. Depois de servir nas guerras do Vietnã e da Coréia, sob bandeira americana e com o nome USS Le Jeune, o ex-Windhuk acabou seus dias num ferro-velho asiático. Mas o seu sino foi preservado e ainda toca, todos os dias, em um quartel de treinamento do exército americano, na Califórnia, onde, no entanto, quase ninguém sabe que o navio de onde ele veio acabou decidindo o improvável destino de mais de 200 alemães, durante a guerra.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor





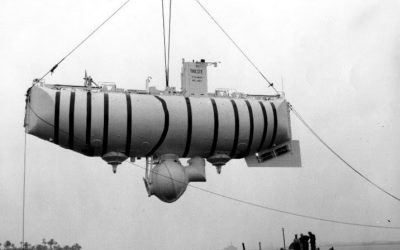


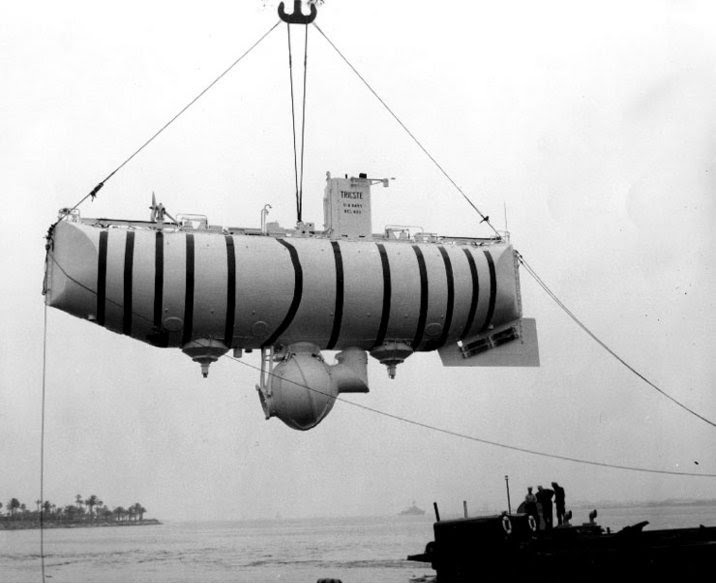

Comentários