
por Jorge de Souza | abr 30, 2024
No primeiro dia de fevereiro de 1960, o radar do navio patrulha Murature, da Armada Argentina, detectou a presença de um submarino nas águas do Golfo Nuevo, no litoral sul daquele país.
Como não havia nenhuma informação sobre a presença de um submarino atuando na região, o navio tentou um contato.
Mas não teve resposta.
Novas tentativas foram feitas e igualmente ignoradas.
Frente àquele estranho silêncio, os militares decidiram agir com mais veemência.
Bombas de alerta foram lançadas na água.
Mas o misterioso submarino permaneceu mudo, debaixo d´água, embora facilmente detectável.
Chegaram, então, aviões militares.
Do alto, eles viram o intruso navegando, lentamente, a baixa profundidade.
Mas não conseguiram identificá-lo.
A caçada, estilo gato e rato, durou dois dias.
No terceiro, o submarino tentou escapar do cerco argentino.
Mas foi perseguido e se abrigou nas profundezas.
Continuou, porém, na região, como indicava o radar do Murature.
Enquanto isso, o governo argentino consultou os Estados Unidos, já que eram tempos da Guerra Fria com a Rússia.
Mas os americanos negaram que o submarino fosse deles.
E os russos, também.
Ao mesmo tempo, surgiram rumores de que um certo casal havia recolhido um mergulhador morto no litoral de Puerto Madryn, cidade próxima das águas que estavam sendo frequentadas por aquele sinistro intruso.
Seria um dos tripulantes do submarino em alguma missão secreta que não deu certo?
Isso nunca foi comprovado.
Nem mesmo se o tal casal existiu de fato.
Dezessete dias depois de ter sido avistado pela primeira vez, o tal submarino permanecia em águas argentinas – uma ousadia que beirava o deboche, já que a Armada Argentina empenhava cada vez mais barcos e aviões naquela patética busca, que apenas repetia o que já havia ocorrido ali mesmo, nas águas do Golfo Nuevo, dois anos antes.
Em maio de 1958, outro submarino não identificado havia invadido o mar territorial argentino e se escondido naquela região, ensejando uma complexa ação dos militares argentinos, que o teriam caçado, com bombas de profundidade, por um par de dias.
Até que manchas de óleo surgiram na superfície, sugerindo que o tal submarino tivesse sido alvejado e afundado.
Mas, talvez, fosse apenas um estratagema do intruso, para despistar os argentinos e fugir.
Nunca se soube o que aconteceu, nem que submarino era aquele.
O mesmo ocorreu em fevereiro de 1960: um dia, o tal submarino não identificado sumiu dos radares e não mais foi detectado.
Uma semana depois, as buscas foram encerradas – supostamente após um sigiloso novo contato do governo russo com o argentino.
Mas não ficou só nisso.
Logo depois, o presidente dos Estados Unidos visitou a Argentina.
Para muitos, aquela visita teve a ver com o enigma do misterioso submarino, que, até hoje, oficialmente, ninguém sabe qual foi, nem o que estava fazendo naquela obscura baía argentina, em fevereiro de 1960.
Ainda assim, a Armada Argentina comemorou o fato como sendo uma vitória, porque alegou que sua missão era a de “proteger o mar argentino contra invasores”.
Mesmo sem saber quem eram eles.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo VOLUME 3 acaba de ser lançado e pode ser comprado, com ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | mar 26, 2024
Nos anos que se seguiram ao fim da Guerra do Vietnã e a ascensão dos comunistas ao poder naquele país asiático, milhares de vietnamitas se lançaram ao mar a bordo de qualquer coisa que flutuasse, na esperança de serem resgatados por navios que passassem e levados para outros países.
Eram os “Boat People”, como ficaram conhecidos os desesperados vietnamitas que não buscavam navegar para lugar algum (até porque não tinham barcos para isso), mas apenas tentavam uma chance de virarem refugiados.
Para isso, eles avançavam até o alto-mar, muitas vezes com suas famílias inteiras, e por lá ficavam, dias à fio, tentando sensibilizar os comandantes dos navios a parar e resgatá-los, o que garantiria a ida do grupo para outro país, fosse ele qual fosse – quase sempre, a mesma nação do dono do navio, porque os regulamentos internacionais determinam que quem socorre alguém no mar fica automaticamente responsável por aquela pessoa.
E isso não agradava nem os países, nem os donos das cargas dos navios, porque atrasava as viagens.
Cientes do problema, a grande maioria dos comandantes dos navios em travessias pela região passou a ignorar a presença daqueles pobres coitados no mar, mesmo quando, no auge do desespero, eles erguiam crianças e clamavam por ajuda.
Mas, felizmente, nem todos os comandantes eram tão insensíveis assim.
E um deles, o brasileiro Charles França de Araújo e Silva, comandante do também brasileiro navio petroleiro José Bonifácio, acabaria virando uma espécie de herói justamente por esta virtude.
Em 1979, quando retornava do Japão para o Brasil, a tripulação do José Bonifácio avistou um daqueles barcos de candidatos a refugiados à deriva, na costa vietnamita, e avisou o comandante França.
Em circunstâncias normais, ele também nada faria, porque, além de frequentes, os “Boat People” representavam uma grande dor de cabeça política, já que seus resgates implicavam em relações diplomáticas entre países.
Mas, era época dos tufões no Mar da China e um deles se aproximava rapidamente da região.
Após consultar a meteorologia, o comandante brasileiro pegou um binóculo e examinou atentamente o barco que implorava por ajuda – um precário casco aberto de madeira, com cerca de duas dezenas de pessoas, incluindo um bebê de colo.
Eles não teriam a menor chance de sobreviver frente ao que estava por vir.
Foi quando o comandante França decidiu mandar as favas o bom senso e colocar em prática a mais nobre das virtudes dos homens do mar: a solidariedade.
Deu ordem para o navio reduzir a marcha, dar meia volta e resgatar aquelas pessoas, antes que fosse tarde demais.
Entre o dilema político de tornar o Brasil responsável por aqueles vietnamitas ou cumprir o dever humanitário de não deixar pessoas entregue à própria sorte, o comandante França optou, acertadamente, pela segunda hipótese.
Mas não seria uma tarefa nada fácil, porque, com 334 metros de comprimento, o José Bonifácio era um navio gigantesco – o maior que já navegou sob bandeira brasileira, em todos os tempos.
Tão difícil quanto a decisão do comandante foram as manobras que precisaram ser feitas para o navio parar totalmente e resgatar aquelas pessoas no mar, porque qualquer movimento errado poderia resultar na destruição do próprio barco dos refugiados.
O José Bonifácio passou a navegar em círculos, cada vez mais fechados, até que a velocidade diminuísse gradualmente e permitisse a parada total dos motores – uma tarefa extremamente complexa para um navio com o tamanho de três campos de futebol.
A manobra consumiu mais de uma hora, mas foi bem-sucedida.
E na hora certa.
Duas horas depois de o grupo ser resgatado, o tufão que vinha se aproximando varreu o mar com brutal ferocidade.
Se não tivessem sido socorridos a tempo, todas aquelas pessoas teriam morrido.
Depois de receberem água, comida e peças roupas dos tripulantes do navio, os vietnamitas, 24 pessoas ao todo, mais do que a tripulação do próprio petroleiro, contaram a sua história.
Eles já estavam no mar há três dias e quatro noites, sem comer nem beber, após terem conseguido driblar a patrulha costeira do Vietnã, que tentava impedir a força que os vietnamitas fugissem do país.
O sonho do grupo, que era liderado pelo jovem pescador Vo Van Phuog, de 21 anos, e sua namorada Nguyen Thi Kim Dung, de 20, era ser resgatado por um navio americano, porque assim eles acabariam sendo levados para os Estados Unidos, praticamente o único país que já tinham ouvido falar, por conta da guerra.
Mas o único navio que parou para socorrê-los foi um petroleiro brasileiro, graças a bravura e destreza do comandante França.
Após o resgate, os vietnamitas foram levados para Cingapura, onde o navio fez escala.
Lá, com a ajuda da ONU, desembarcaram e seguiram para um campo de refugiados, enquanto aguardavam a autorização do governo brasileiro para a imigração legal, já que a lei determina que um país que resgata refugiados fica automaticamente responsável por eles.
Um mês depois – e logo após o José Bonifácio retornar ao Brasil -, os 24 vietnamitas resgatados pelo comandante França também desembarcaram no país, de avião, com passagens pagas pela ONU, que ainda ofereceu ajuda financeira por um ano para eles se estabelecerem em solo brasileiro.
E nunca mais nenhum deles quis sair daqui.
Todos os refugiados resgatados pelo petroleiro José Bonifácio viraram cidadãos brasileiros e aqui constituíram famílias – além de darem origem a primeira comunidade vietnamita do Brasil, depois acrescida por outras levas de refugiados, também resgatados no mar por navios brasileiros.
Entre eles, o casal líder daqueles primeiros vietnamitas, Phuog e Nguyen, aqui autorebatizados “Fu” e “Sonia”, hoje ainda vivos, e donos de um pequeno restaurante de comida vietnamita em São Paulo, o Miss Saigon, considerado o melhor o melhor do gênero na cidade – que eles tocam junto com os três filhos, todos nascidos no Brasil.
Até a morte do comandante França, em 2013, Phuog e o seu salvador conversavam periodicamente, e o imigrante sempre terminava as conversas agradecendo, uma vez mais, o resgate.
Mesmo assim, o comandante do José Bonifácio jamais aceitou ser chamado de herói, porque considerava que havia tomado apenas uma decisão humanitária.
Este, porém, nunca foi o sentimento dos primeiros integrantes da comunidade vietnamita brasileira.
Para eles, o futuro só existiu graças àquele nobre gesto de um comandante, que, por isso mesmo, fez história na Marinha Mercante do Brasil.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor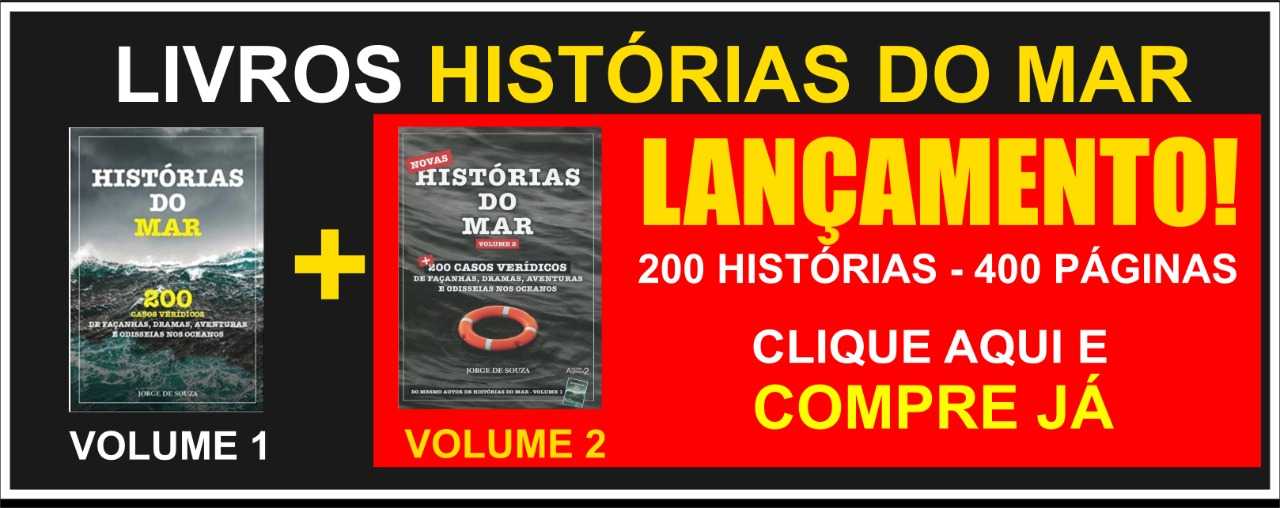

por Jorge de Souza | mar 19, 2024
Nas primeiras horas da manhã de 5 de outubro de 2023, quando navegava em solitário com seu veleiro Jambo, a cerca de 1 000 milhas da costa brasileira, após ter partido da ilha de Fernando de Noronha com destino à África do Sul, o velejador alemão Martin Daldrup, de 59 anos, sentiu um estrondo no casco do seu barco.
Navegador experiente, ele rapidamente saiu da cabine e olhou ao redor, para tentar descobrir no que havia batido, mas nada viu na superfície do mar que pudesse explicar aquele impacto.
Mas logo percebeu que o leme do veleiro não estava mais respondendo aos comandos do piloto automático.
Martin, então, voltou correndo para a cabine, a fim de checar o mecanismo interno do leme do seu Bavaria 34, cujo acesso era feito por baixo do assoalho do camarote de popa.
Mas para isso foi preciso, primeiro, esvaziá-lo, já que ele vinha sendo usado como depósito de comidas e equipamentos para aquela longa travessia.
O alemão passou a arremessar para fora da cabine tudo o que obstruía o acesso ao mecanismo, mas logo interrompeu a operação: já havia água sob os seus pés – sinal de que o barco estava sendo inundado pelo mar.
Ele ainda tentou conter a inundação, acionando todas as bombas de sucção que tinha.
Mas não adiantou: em questão de segundos, a água já estava na altura das suas canelas.
Não havia mais o que fazer.
Em vez de gastar tempo tentando evitar que o barco afundasse, era preciso se apressar para salvar a própria vida.
Com certa serenidade, embora o momento fosse propício para o puro pânico, Martin pôs em prática o que sempre exercitara mentalmente: o abandono do barco.
Pegou o passaporte, o telefone via satélite, um localizador pessoal portátil, uma bolsa de emergência – que mantinha sempre pronta, com água e alimentos, para situações como aquela -, e voltou ao convés.
Ali, lançou ao mar e disparou a injeção de ar em uma balsa salva-vidas inflável, pulando para dentro dela em seguida.
Depois, já na balsa – por força do hábito de quem passara os últimos anos registrando as travessias que fazia com seu veleiro para o bem-sucedido canal de vídeos que mantinha na internet -, Martin, mais conhecido como “Martin Jambo” nas redes sociais, fez aquele que seria o último registro fotográfico do seu veleiro, já bastante adernado pelo peso da água que entrava furiosamente por baixo do casco.
E ficou olhando o seu barco ser gradativamente engolido pelo oceano, até que desapareceu por completo.
Entre o instante do impacto e completo naufrágio do barco, pouco mais de cinco minutos havia se passado.
A bordo da pequena balsa salva vidas, Martin respirou fundo e ficou conjecturando sobre o que poderia ter causado o seu acidente.
Colisão com uma baleia que estivesse dormindo rente à superfície?
Sim, era possível: baleias em repouso nem sempre detectam a aproximação silenciosa de um veleiro.
E a época do ano, início da primavera, era favorável a presença maciça delas na costa brasileira.
Mas o fato de não ter avistado nenhuma movimentação na superfície, ao sair da cabine para tentar descobrir no que havia batido, fez o alemão concluir que aquele não havia sido o motivo do naufrágio do seu barco.
Restou, então, apenas a segunda hipótese: colisão com um contêiner caído ao mar, mas não totalmente afundado – esta, sim, uma hipótese bem mais provável.
Apesar da impossibilidade eterna de comprovar a veracidade deste fato, Martin adotou a colisão com um contêiner como sendo a única explicação possível para o seu infortúnio.
E aceitou, resignado, a perda do barco.
Martin, no entanto, comemorou muito – como, aliás, já havia feito com a esposa, ao telefone – o fato de ter sobrevivido ao naufrágio, embora agora estivesse praticamente no meio do Atlântico, muito longe de qualquer naco de terra firme.
E dentro de uma frágil balsa inflável.
Mas – de novo – ele não se desesperou.
Ativou o seu localizador pessoal, pegou o telefone via satélite e ligou para a esposa, na Alemanha, pedindo que ela acionasse o serviço de resgaste do seu país – que, por sua vez, contatou a Marinha do Brasil.
Como o alemão estava muito distante da costa brasileira, a solução foi acionar os navios que porventura estivessem na região, a fim de efetuar o resgate do velejador.
Mas não havia nenhum navio por perto.
Só no dia seguinte, o cargueiro com bandeira das ilhas Antígua e Barbuda Alanis, que estava a mais de 500 milhas de distância do náufrago quando recebeu o pedido de ajuda da Marinha Brasileira, chegou ao local e resgatou o velejador – que, apesar de bem preparado para aquela situação, subiu a bordo dando graças a Deus pela sua salvação, e garantindo que, mesmo sabendo que seria resgatado, passara a pior noite de sua vida, sacudindo o tempo todo na balsa, molhado e com muito frio.
No navio, Martin foi recebido com uma calorosa recepção, mas informado de que, de acordo com os protocolos marítimos, teria que seguir viagem com o cargueiro, até o seu porto final, na África do Sul – coincidentemente, o mesmo destino para o qual ele seguia com seu veleiro, quando bateu no quer que tenha sido, no meio do oceano.
Três semanas depois, o velejador alemão desembarcou – são e salvo, mas um tanto amargurado -, no porto sul-africano de Saldanha, onde sua aliviada esposa já o aguardava.
Ele, afinal, chegara à África do Sul pelo mar.
Mas não com a embarcação que desejava ter completado aquela longa travessia.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | fev 21, 2024
Na década de 1990, sérios problemas políticos e econômicos levaram milhares de cubanos a tentar fugir para os Estados Unidos pelo mar, atravessando os 170 quilômetros de água que separam a ilha de Cuba do território americano a bordo de embarcações pra lá de improvisadas.
O auge desta fuga em massa e desesperada aconteceu em 1994, quando, todos os dias, centenas de cubanos se aboletavam sobre qualquer coisa que flutuasse, na esperança de chegar a uma praia americana e começar nova vida, já que, pela lei americana, os imigrantes ilegais cubanos só podem ser presos e extraditados se apanhados ainda no mar.
Se conseguissem colocar um pé em solo americano, automaticamente ganhavam direito a permanência no país, o que estimulou ainda mais cubanos a tentar aquela travessia.
Foi a Crise dos Balseros, como foram apelidados os que tentavam tal tipo de fuga.
Na época, houve até a tentativa de sequestro de um ferry boat que fazia a travessia de um braço de mar em Havana, com o objetivo de desviá-lo para Miami, o que, obviamente, não deu certo.
A balsa era infinitamente mais lenta do que as lanchas da polícia cubana e foi detida antes mesmo de sair dos limites da baía.
Além disso, ela sequer teria combustível para fazer aquela travessia.
Em 2004, as tentativas de imigração de cubanos pelo mar continuavam intensas e geravam episódios dramáticos quase que diários nas praias da Florida.
Em um deles, um grupo de banhistas de Fort Lauderdale não pensou duas vezes na hora de entrar no mar e ajudar dois homens e uma mulher a chegar à praia, antes que a polícia os interceptassem na água, numa cena típica de filme de aventura.
Os três cubanos estavam há dez dias no mar, se equilibrando sobre quatro câmeras de pneus de trator amarradas em forma de balsa, e tão exaustos que não conseguiam nadar até a praia.
Foram ajudados pelos banhistas e, assim sendo, cumpriram a formalidade legal de tocar o solo americano antes de serem apanhados.
No mesmo ano, outro fato bizarro envolvendo balseros cubanos correu o mundo.
Marciel Lopez e Luis Rodrigues foram detidos pela guarda-costeira americana a quilômetros da costa da Florida, tentando alcançar a América com um pré-histórico automóvel Buick, de 1959, que eles, engenhosamente, haviam transformado em um veículo anfíbio.
Na mesma ocasião, outro grupo fez o mesmo com um Mercury ainda mais velho.
Todos, porém, tinham experiência no assunto.
Meses antes, juntos, eles haviam participado de uma tentativa ainda mais absurda: fazer a mesma travessia com um caminhão Chevrolet 1951, caseiramente adaptado para “rodar” na água e com mais de 50 cubanos na carroceria.
Os “Camionautas”, como ficaram conhecidos, foram detidos pelos agentes americanos e mandados de volta para a ilha, onde, no entanto, apenas aperfeiçoaram o engenho e os transplantaram para aqueles dois velhos automóveis.
Que também foram interceptados.
Mesmo assim, eles não desistiram.
Metade do grupo, por fim, chegou aos Estados Unidos por meio de uma travessia “convencional”.
Ou seja, a bordo de uma improvisada balsa feita com câmaras de ar de pneus de caminhão e presas com pedaços de madeira arrancados dos bancos das praças de Havana.
Mais originais ainda foram os nove cubanos, que, em setembro de 2014, desembarcaram na elegante costa de Key Biscaine, em Miami, dentro de uma prosaica lata de lixo, dessas usadas para recolher entulhos nas ruas.
Ela fora adaptada para receber o motor de um velho caminhão e ganhou câmaras de ar de pneus em volta, para não afundar.
Nela, o grupo passou dez dias no mar, mas conseguiu chegar.
Para conquistar o sonho americano, a necessidade virou a mãe da criatividade dos cubanos.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | fev 8, 2024
Na Segunda Guerra Mundial, um certo gato preto e branco, que vivia a bordo de navios de combate, fez história – tanto pela sorte que teve, quanto por ter atuado nos dois lados do conflito: o alemão e dos Aliados
A saga do bichano começou em maio de 1941, quando foi levado, por um marinheiro alemão, para o encouraçado alemão Bismarck, que, no entanto, afundaria em seguida.
Dos 2 221 homens que havia bordo, só 115 sobreviveram – além do gato, que, mais tarde, foi encontrado aboletado sobre destroços do navio, por outro marinheiro.
Só que este, inglês.
Batizado de Oskar, o gato, então, foi levado pelo marinheiro que o resgatara para o destroier inglês HMS Cossack, onde viveu por quatro meses.
Até que o seu novo lar foi torpedeado pelos alemães, na região de Gilbraltar, em outubro daquele ano.
E ele, novamente, sobreviveu ao naufrágio.
Resgatado uma vez mais no mar – e rebatizado Sam -, o animal passou um tempo vivendo em uma fortaleza inglesa da região, até que voltou a morar a bordo de outro navio: o porta-aviões inglês Ark Royal – ironicamente um dos que havia feito o Bismarck afundar.
E – adivinhe só – o Ark Royal também foi torpedeado, pelo alemães, um mês depois.
E o gato, uma vez mais, escapou com vida e voltou a ser resgatado.
Pela terceira vez.
E não parou por aí.
Ainda na guerra, ele viveu a bordo de dois outros navios ingleses, o Legion e o Lightning, ambos também afundados em combate.
Mas, quando isso aconteceu, Sam já havia sido despachado para a Inglaterra, por conta da fama que passou a ter entre os marinheiros mais supersticiosos, de trazer mau agouro aos navios.
Lá, foi adotado por um marinheiro irlandês, que o levou para casa, após a Guerra, onde aquele sortudo gato malhado viveu por mais incríveis 14 anos.
Oskar/Sam ganhou fama de trazer azar aos navios. Mas teve a sorte de sobreviver a todos eles.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor




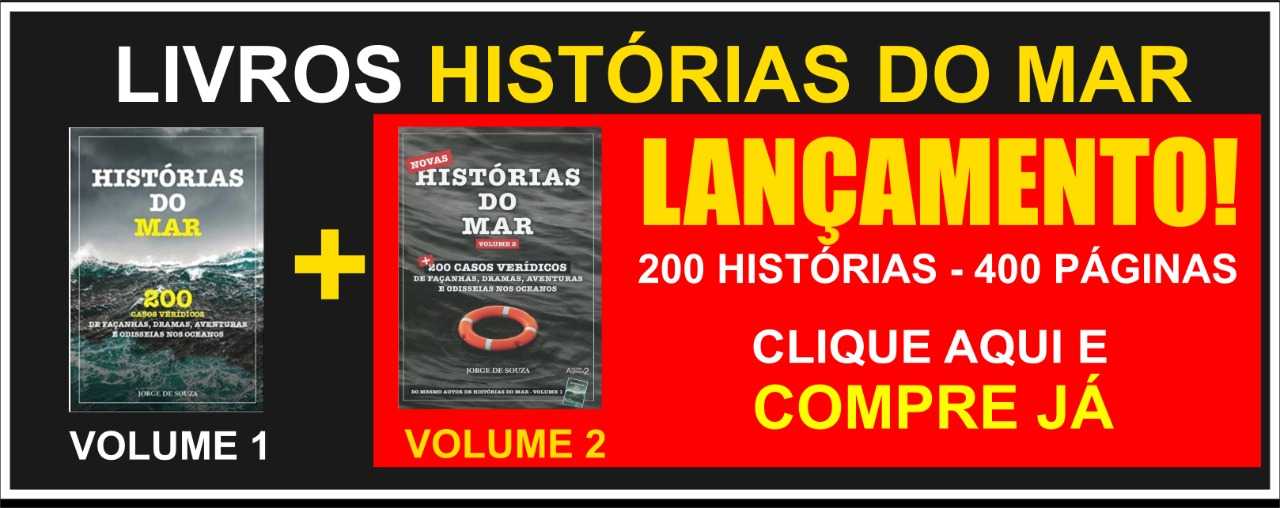



Comentários