
por Jorge de Souza | set 13, 2023
No final dos anos de 1990, os ingleses decidiram construir um grande veleiro-catamarã, o mais revolucionário da história.
Entre outras ousadias, ele tinha dois mastros, um em cada casco, o que jamais havia sido tentado.
O objetivo do barco era competir na The Race, uma regata de volta ao mundo, que partiria de Barcelona, em janeiro de 2001.
O projeto consumiu cerca de quatro milhões de libras (boa parte delas vinda de doações de simples entusiastas da vela) e a missão de torná-lo realidade foi entregue ao velejador inglês Pete Goss, que o transformou em um espetáculo de mídia — a construção pode ser acompanhada pelo público, dia a dia, desde o início.
Para Goss e todos os ingleses, o Team Philips, como o barco foi batizado, era mais do que um simples veleiro de competição.
Era o próprio orgulho marítimo inglês que estava em jogo.
O Team Philips ambicionava se tornar o veleiro mais rápido do mundo.
Seu projeto fora, de certa forma, inspirado nas naves espaciais da série Jornada nas Estrelas.
Ele tinha velas separadas para cada casco, 120 pés de comprimento e era mais largo do que uma quadra de tênis.
Ficou pronto em janeiro de 2000 e foi batizado pela própria Rainha da Inglaterra. Em seguida, foi para a água, para os primeiros testes práticos.
Foi quando começaram os problemas.
Muitos problemas…
Logo no primeiro teste, navegando com ventos de não mais que 24 nós (bem pouco para um barco daquele porte), o Team Philips inexplicavelmente perdeu toda a proa de um dos cascos, que simplesmente partiu durante a navegação.
Ele teve que voltar rebocado, sob o risco de afundar ali mesmo.
Refeito o casco, oito meses mais tarde, ele voltou à água.
E, de novo, decepcionou.
Desta vez, quebrou a base de um dos mastros.
Nada parecia dar muito certo no audacioso projeto de Goss, para frustração dos ingleses, que haviam transformado aquele barco num quase símbolo naval britânico.
Com tantos imprevistos, que atrasaram sobremaneira os cronogramas, os testes finais do barco tiveram que ser feitos já durante a travessia para a largada da competição, na Espanha.
E foi quando o pior aconteceu.
Em 2 de dezembro de 2000, perante uma multidão de torcedores, o Team Philips deixou a Inglaterra rumo a Barcelona, para a largada da The Race.
Mas sequer chegou lá. Vítima de uma dessas infelizes coincidências, o barco foi colhido por uma brutal tempestade no trajeto e começou a desintegrar-se em pleno oceano.
Na noite de 9 de dezembro, a tempestade pegou o Team Philips em cheio (de nada adiantou Goss ter penetrado bastante no Atlântico a fim de evitá-la), com ventos de até 70 nós.
Logo, parte da pequena cabine central saiu voando e o resto ameaçava ir junto.
Goss, então, baixou todas as velas e lançou ao mar uma âncora de tempestade, feita para tentar frear o avanço do barco.
Mas não adiantou muito.
Às 23h55, temendo pela vida dos tripulantes, ele decidiu emitir um sinal de socorro a um navio que estava por perto.
O resgate chegou rápido.
Só que, para isso, foi preciso abandonar o super-veleiro no oceano.
Não havia outro jeito, pois era impossível rebocá-lo.
Nem o barco agüentaria muito tempo se fosse puxado por outro barco.
Nunca mais o Team Philips foi visto. Vazio, ele vagou à deriva ninguém sabe por quanto tempo, até que, seis meses depois, dois pedaços destruídos do seu casco foram dar em duas praias distintas, uma da Irlanda e outra da Islândia, esta a 1 500 quilômetros de distância.
Os dois fragmentos traziam trechos das mensagens que haviam sido pintadas no casco (“Vamos fazer as coisas melhores”, dizia, ironicamente, uma delas), além de assinaturas de ingleses que fizeram doações para a construção do barco.
O Team Philips ficou marcado pelo completo fiasco.
E decretou o fim do sonho inglês de construir um barco revolucionário.
Mas o vexame deixou uma lição: a de que, no mar, não existe tempo para a pressa.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | set 5, 2023
Cinco anos atrás, quando a maré baixou, a praia de Santos, no litoral de São Paulo, revelou algo semienterrado na areia: uma fileira de intrigantes pontas de madeira.
Logo concluiu-se que fazia parte da estrutura de um antigo barco – que, em seguida sumiu, engolida pelo mar, para reaparecer outras tantas vezes depois.
Mas que barco era aquele?
Começava ali uma dúvida, que até hoje, cinco anos e algumas pesquisas depois, ainda não pode ser respondida com 100% de certeza, embora todas as evidências apontem na direção do mesmo barco: o veleiro-cargueiro inglês Kestrel, que sabidamente encalhou na praia de Santos, em 11 de fevereiro de 1895, e por lá ficou.
“Tenho 80% de convicção que são os restos do Kestrel, porque tamanho e localização do encalhe batem. Mas é preciso ter comprovação científica”, diz o pesquisador Sérgio Willians, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e ex-diretor da Fundação Arquivo e Memória da cidade, que baseia sua opinião sobre a identidade do barco graças a um antigo quadro.
A tela, pintada por Benedito Calixto, um dos grandes nomes da pintura brasileira do início do século passado e que viveu parte de sua vida em Santos, mostra um grande veleiro encalhado na beira de uma praia, mas foi erroneamente classificado como sendo o barco Caldbeck, no município vizinho de Praia Grande.
Aparentemente, não era.
Após comparar a paisagem ao fundo da tela com a topografia das praias dos dois municípios, Willians concluiu que aquela praia era a de Santos, e que o barco retratado só poderia ser o Kestrel – que, assim sendo, estaria aflorando na areia da praia, 126 anos depois.
A mesma opinião foi compartilhada pelo arqueólogo Manoel Gonzalez, do Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas de Santos, que vinha acompanhando o surgimento gradual dos escombros desde 2017, quando os restos do barco apareceram pela primeira vez na praia.
E ele é ainda mais otimista na identificação do barco.
“Arrisco dizer que há 90% de chances de ser o Kestrel, mas é preciso escavar o local para comprovar isso. E é aí que começam os problemas, porque seria uma operação muito cara e complexa”, diz Gonzalez, que, ao mesmo tempo em que vibra com a descoberta de algo tão valioso para um arqueólogo, reconhece que não é nada fácil executar o trabalho de comprovar cientificamente a sua identidade.
“O local onde o barco está soterrado é extremamente ingrato, porque passa metade do tempo seco e outra metade debaixo d´água, por conta do sobe e desce das marés”, explica o arqueólogo.
“Seria bem mais fácil se ele ficasse o tempo todo submerso, porque aplicaríamos técnicas de arqueologia submarina. Mas com essa variação de ambiente, não dá para fazer nem uma coisa nem outra. É preciso, primeiro, construir um grande muro em torno dele, para reter o mar e permitir escavar no seco. E isso custa caro”, completa Gonzalez.
O centro de pesquisas arqueológicas dirigido por Gonzalez orçou em cerca de R$ 2 milhões os recursos necessários para escavar o casco soterrado, sendo que a maior parte desse dinheiro seria destinada a construção do tal muro para reter o mar em torno do achado.
“Parece um valor absurdo, mas é preciso considerar que estamos falando de construir uma barreira capaz de resistir a força do mar, com três metros de altura e outros três enterrados na areia, para que a água não infiltre também por baixo. Na prática, é como construir uma ilha seca no meio do mar, para que possamos escavar”, explica.
O custo do projeto gerou uma série de comentários irônicos dos moradores da cidade.
“R$ 2 milhões para desenterrar lixo na praia? Só pode ser piada!”, escreveu um deles, quando as primeiras notícias foram divulgadas.
“Sai mais barato construir outro barco”, acrescentou outro, dando coro aos indignados com a proposta de gastar tanto dinheiro para escavar os escombros de um velho barco.
“Não é nenhuma relíquia bíblica. É apenas um monte de madeira velha. Nada que uma retroescavadeira e algumas caçambas não resolvam”, resumiu outro morador.
Desde então – e lá se vão cinco anos… -, a área em torno dos restos do barco foi apenas cercada pela Prefeitura da cidade, impedindo o acesso de curiosos às vigas de madeira, e uma câmera de vigilância foi instalada para monitorar o local dia e noite.
Para a Prefeitura de Santos, o surgimento daquele barco enterrado na areia da praia virou um problema arqueológico, e, desde então, nada foi efetivamente feito para preservá-lo.
Porque ninguém sabe ao certo o que fazer com o achado.
O primeiro grande afloramento dos restos do barco, em agosto de 2017, não aconteceu por acaso.
Pouco antes disso, o canal de acesso ao porto de Santos havia sido dragado, o que provocou uma alteração na movimentação das areias nas praias da baía e fez aflorar a velha embarcação.
Hoje, por conta do sobe e desce das marés, os escombros somem e reaparecem na praia duas vezes ao dia.
E são cada vez mais visíveis.
“Quando começamos a estudar os escombros, só as pontas das vigas do casco ficavam à mostra. Hoje, algumas madeiras já estão meio metro acima da areia”, diz o arqueólogo Gonzalez, que brinca.
“Se pudéssemos esperar mais um século, talvez a própria natureza se encarregasse de escavar o barco para nós”.
O Kestrel era um veleiro de transporte de carga, com casco de madeira, três mastros e 60 metros de comprimento, que fazia a rota regular entre a Europa e as Américas.
Na sua última viagem, já havia descarregado no porto de Santos e estava ancorado, enquanto a maior parte da sua tripulação – inclusive o capitão – passeava pela cidade, quando uma tempestade, com fortes ventos, arrastou o barco para a praia.
A bordo, só havia o cozinheiro e dois marinheiros, que, estranhamente, recusaram a ajuda de um rebocador, que veio ajudar a deter o avanço do barco.
Isso, mais tarde, geraria suspeitas de que o encalhe poderia ter sido proposital, para o dono do barco receber o dinheiro do seguro, já que os navios movidos a vapor tinham tornado os veleiros-cargueiros obsoletos.
“Para mim, foi um golpe descarado e o objetivo da tripulação era destruir o barco, tanto que ele estava vazio, sem nenhuma carga”, especula o memorialista Willians.
“Isso enriquece ainda mais a história desse barco, se é que o que está na enterrado na praia são mesmo os restos do Kestrel”, completa.
Enquanto isso, mesmo sem saber o que fazer, a Prefeitura da cidade preferiu oficializar a identidade do barco e lucrar turisticamente com isso.
No início deste ano, mesmo sem ter comprovação 100% científica de que se trata realmente do barco em questão, a Prefeitura de Santos mandou instalar uma espécie de projetor de imagens na beira da praia, que permite aos visitantes, ao olhar para os restos semissoterrados na areia através do equipamento, visualizar o veleiro inteiro, como ele era antes de virar escombros.
O efeito ficou bonito e informativo.
Desde que – é claro – aqueles restos realmente pertençam ao Kestrel…
Mas, de certa forma, até a dúvida sobre a real identidade daquele barco passou a fazer parte do atrativo turístico para a cidade.
Gosta de histórias sobre o mar?
Leia 200 delas nos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1 e 2, que podem ser comprados, com desconto de 25% e ENVIO GRÁTIS, clicando aqui.
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor
Foto: Divulgação Prefeitura de Santos

por Jorge de Souza | ago 29, 2023
Moby Dick, de Herman Melville, é um dos maiores clássicos da literatura mundial de todos os tempos.
Mesmo quem não conhece a fundo a história do enorme cachalote branco que afundou o barco do capitão Ahab, devorou sua perna, e, por isso, passou a ser obsessivamente perseguido por ele, sabe que Moby Dick era uma baleia.
E das grandes.
Mas o que, talvez, nem todos saibam é que, embora Moby Dick seja uma obra de ficção, foi inspirado em um fato real: o afundamento, por um grande cacholete de comportamento anormal, do baleeiro americano Essex, no meio do Oceano Pacífico, em 1819 – fato que levou seus tripulantes a vagarem à deriva no mar por mais de três meses, a bordo de pequenos botes, e tendo que recorrer a atitudes extremas na luta pela sobrevivência.
Tudo começou no início do século 19, quando a caça da baleia era a principal atividade comercial dos Estados Unidos, especialmente na região de Nantucket, na costa leste americana, então o maior centro baleeiro do mundo.
Em qualquer cidade americana onde houvesse um candeeiro aceso, queimava óleo extraído da gordura das baleias, então o “petróleo” de uma época em que não havia eletricidade.
As presas preferidas dos baleeiros, no entanto, não eram bem as baleias e sim os cachalotes, uma espécie de primo distante dos golfinhos, porém bem maiores, já que podem passar dos 20 metros de comprimento.
Os cachalotes rendiam óleo de boa qualidade em abundância, e isso os levou a serem quase dizimados, apesar de serem animais inteligentíssimos, donos do maior cérebro entre todos os seres vivos.
Quando a população de baleias começou a declinar no Atlântico, os barcos passaram a ir cada vez mais longe, em busca, sobretudo, dos cachalotes.
Foi o que fez o baleeiro americano Essex.
Em agosto de 1819, ele partiu de Nantucket, com vinte homens a bordo, para uma longa viagem até o Pacífico, onde as baleias ainda eram fartas.
No comando do barco ia o jovem capitão George Pollard, então com 28 anos de idade, tendo como seu imediato o amigo Owen Chase, de 23.
O Essex desceu toda a América do Sul, dobrou o Cabo Horn e penetrou no Pacífico, buscando cachalotes na costa do Chile, Peru, Ilhas Galápagos e, depois, no meio do maior dos oceanos.
Na época, as baleias eram caçadas com arpões lançados com as mãos a partir de pequenos botes a remo, que os barcos baleeiros colocavam na água tão logo avistavam os esguichos dos animais no horizonte.
Era uma atividade de risco – para os dois lados.
Depois de arpoados, os animais golpeavam ferozmente a superfície do mar com a cauda, não raro atingindo os botes de seus algozes, antes de partirem em disparada, arrastando o frágil barquinho e seus ocupantes.
Era uma espécie de embate entre David e Golias, onde os primeiros, apesar da absurda inferioridade de forças e tamanhos, invariavelmente venciam.
Mas, em 20 de novembro de 1819, quando se preparava para atacar um grupo de cachalotes num ponto ermo do Pacífico, o Essex virou caça, em vez de caçador.
Após localizar um grupo de cachalotes e de tentar arpoar um deles (que reagiu e danificou o bote onde estava o imediato Chase), o capitão Pollard viu surgir bem ao lado do Essex um enorme cetáceo, que fitou bem o barco, esguichou diversas vezes e passou a bater as mandíbulas com força, como se bufasse de raiva pelo ataque ao grupo do qual ele fazia parte.
Em seguida, o animal mergulhou e desapareceu sob a água, para retornar com extrema velocidade na direção do barco – que foi atingido com violência e começou a afundar de imediato.
O cachalote, então, passou um tempo observando a agonia dos homens a bordo, como que saboreando sua vingança.
Depois, desapareceu nas profundezas do oceano, aparentemente satisfeito com o que tinha feito.
Começava ali a luta pela sobrevivência dos 20 tripulantes do Essex, no meio do Pacífico.
E nascia a lenda de Moby Dick.
Na obra de Melville, repleta de simbolismos da luta do bem contra o mal, é a sede doentia de vingança do capitão Ahab contra o gigantesco cachalote que destruíra o seu barco e decepara sua perna que conduz a história.
Mas na vida real dos baleeiros que inspiraram o livro, foi o cachalote que se vingou daqueles homens e os transformou em náufragos, com dramas e privações difíceis de suportar.
Mas eles aguentaram muito mais do que se poderia imaginar.
Após o ataque do cachalote enfurecido, Pollard e seus 19 homens só tiveram tempo de juntar alguns mantimentos e pular para os três botes que restaram intactos.
Dividiram-se em três equipes, cada uma num barco, içaram precárias velas e ficaram à mercê da própria sorte.
Estavam longe de tudo, a cerca de 4 000 quilômetros da terra firme mais próxima, o Taiti, que, no entanto, eles logo desconsideraram como alternativa, porque julgavam que aquelas ilhas eram habitadas por canibais.
Optaram, então, por um destino bem mais distante: a costa do Chile, que ficava quase ao dobro da distância.
Num inventário inicial, o capitão Pollard estimou que o grupo tinha provisões para cerca de 60 dias no mar e calculou que, talvez, desse para chegar lá.
Um mês depois, quando já não havia mais o que comer nem beber a bordo dos três botes – e alguns homens já estavam usando a própria urina para aplacar a sede –, um pedaço de terra surgiu no horizonte.
Mas não era a costa chilena e sim uma ilha deserta e sem recursos: a ilha Henderson, que nem água doce tinha.
O grupo ficou lá uma semana para recuperar forças, antes de voltar para o mar.
Na última hora, porém, três homens resolveram ficar na ilha – eles preferiam correr o risco de nunca mais saírem de lá do que voltar a se aventurar naquele deserto de água salgada.
Os botes, então, partiram.
Dias depois, veio a primeira baixa: um dos homens dos botes morreu de fome e de sede.
Seu corpo foi lançado ao mar.
Em seguida, formou-se uma tempestade, que, se por um lado trouxe água para aqueles pobres coitados, por outro separou os três barcos, que nunca mais voltariam a se encontrar.
Agora, seria cada um por si.
Isolados e sem o apoio moral dos companheiros dos demais botes, o ambiente foi se tornando sombrio.
Logo, veio outra morte.
E mais outra.
Esta, depois de um ataque de loucura do náufrago moribundo, que, delirando de fome e sede, ficou em pé e, solenemente, pediu aos companheiros “um copo d´água e um guardanapo”.
Morreu em seguida, entre delírios de insanidade.
Foi quando começou o pior dos dramas dos náufragos do Essex.
Antes de lançar ao mar o corpo de mais um companheiro morto, o imediato Chase, que liderava um dos botes, propôs o que todos já haviam pensado, mas não ousavam dizer: por que não usá-lo como alimento, para tentar salvar a todos?
E assim foi feito.
Embora não houvesse alternativa, já que eles não tinham mais linhas nem anzóis para pescar, o ato desesperado de canibalismo acabaria transformando para sempre a vida daqueles homens.
Triste ironia: eles haviam optado por navegar muito mais por temerem os canibais e acabaram se transformando exatamente em um grupo deles.
Numa época em que a religiosidade era a base de tudo, devorar seres humanos estava acima de todos os valores.
Mesmo sendo a única saída para aqueles pobres coitados famintos.
Mas Deus foi complacente e, dias depois, quando o bote comandado por Chase já se aproximava da costa sul-americana, após três meses vagando no oceano, uma vela surgiu diante daquele grupo de moribundos, cujas costelas já ameaçavam furar a pele.
Era um navio inglês, que resgatou os primeiros sobreviventes.
Cinco dias depois, o segundo bote, comandado por Pollard, também foi encontrado por um baleeiro americano, não muito distante do primeiro, mas com uma história ainda mais aterrorizante para contar.
Depois de também terem se alimentado do cadáver de um companheiro morto pela fraqueza, veio a pior parte: um macabro sorteio, feito em comum acordo entre os quatro ocupantes do barco, que indicou qual deles morreria para servir de alimento aos demais.
O que também foi feito.
Após o sorteio, arrependido por ter permitido aquele absurdo, o capitão Pollard se ofereceu para ser sacrificado no lugar da vítima, mas sua oferta não foi aceita nem pelo próprio sorteado, que exigiu que fosse assassinado.
– Que diferença faz morrer assim ou de fome? – teria dito, para tranquilizar os companheiros.
Para a execução da vítima, foi usada a última bala que restava na pistola de um dos ocupantes do bote, depois de várias tentativas frustradas de capturar um peixe com disparos.
O fato gerou horror na chegada dos náufragos ao porto de Valparaíso, no Chile, onde já estavam os integrantes do primeiro grupo, que também havia praticado canibalismo – só que sem tal requinte.
Já o terceiro bote jamais foi encontrado.
Dias depois, um navio que estava de partida para a Austrália se encarregou de resgatar os três náufragos que optaram por ficar naquela ilha deserta e que acabaram sendo encontrados vivos, depois de seis meses bebendo água da chuva e comendo o pouco que o mar permitia.
Já outro barco levou o capitão Pollard, o imediato Chase e os demais sobreviventes do Essex de volta a Nantucket.
Lá, eles viveram o resto dos seus dias amargurados e discretamente segregados pelo seu ato desesperado.
Pollard morreu em 1870, logo depois de receber a visita de um jovem escritor, chamado Herman Melville, que havia conhecido um garoto que lhe narrara uma história impressionante: a de como um cachalote enfurecido transformara em martírio a vida de 20 homens.
O garoto era o filho do imediato Chase, que guardara o diário que seu pai escrevera após voltar a Nantucket – e antes dele enlouquecer e passar a estocar comida por toda a casa, como consequência das privações que passara no mar.
Melville ficou impressionando com o episódio e usou o relato de Pollard e o diário de Chase como base para o que, depois, viria a ser a mais famosa história dos sete mares.
Coincidentemente, quando o livro foi lançado, em 1851, outro baleeiro de Nantucket também fora vítima da fúria de certo cachalote no Pacífico, um animal com comportamento estranho, que esguichava alto e batia as mandíbulas na superfície.
Para muitos, o era mesmo animal que atacara o Essex: um enorme e vingativo cachalote que ficou imortalizado sob o nome de Moby Dick.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 23, 2023
No início da década de 1960, irritado com a burocracia e o excesso de regras criadas pela sociedade, um rebelde e criativo engenheiro italiano, chamado Giorgio Rosa, teve uma ideia inusitada: criar uma ilha (ou seja, construí-la), proclamá-la uma nação independente, e fincá-la bem diante da costa italiana, mas fora dos limites do mar territorial daquele país – portanto, isenta das leis italianas, nas chamadas “águas Internacionais”, que, tecnicamente, não pertencem a país algum.
Seria uma mera utopia, não fosse um detalhe desconcertante: ele a construiu de fato, no meio do mar, batizou-a de Ilha Rosa (um duplo sentido com o seu sobrenome e o movimento hippie da época, que usava flores com símbolo) e a proclamou uma micronação independente, tendo ele próprio como presidente.
E tudo isso diante da incredulidade geral das pessoas e da fúria generalizada do governo italiano com aquele ato inédito de ousadia e audácia – embora, sob o ponto de vista técnico e político, perfeitamente legal e exequível.
Dono de uma mente brilhante, capaz de encontrar soluções mirabolantes para problemas que fariam qualquer um desistir de imediato – além de uma determinação que beirava a teimosia -, Rosa passou dez anos “construindo” sua ilha, que foi erguida com tijolos e concreto sobre pilares de aço fincados no Mar Adriático, a exatas seis milhas náuticas da costa de Rimini – só um pouquinho além do limite do mar italiano, o que, porém, tornava ilegal qualquer represália do governo local.
Mas não foi o que aconteceu.
Desde o princípio, embora quase ninguém levasse a sério aquela ideia maluca, o insólito projeto de Rosa foi visto com certa desconfiança e explícita insatisfação pelas autoridades italianas, que fizeram o possível para impedir a construção da ilha – que, na prática, não passava de uma marquise de 400 metros quadrados sobre o mar, com duas pequenas edificações sobre ela.
Dada a carência geral de recursos do então simples engenheiro assalariado, e o desafio colossal das dimensões do projeto, Rosa levou dez anos para dar forma a sua ilha, já que contava apenas com a ajuda de meia dúzia de amigos abnegados, além da sua colossal capacidade para resolver os gigantescos problemas que iam se sucedendo.
Um deles foi a questão do abastecimento de água, já que ele não queria contar apenas com a imprevisibilidade das chuvas.
Para isso, Rosa decidiu perfurar o solo marinho, com uma sonda, até encontrar o precioso líquido, debaixo do fundo do mar.
E achou – mas não exatamente tudo o que buscava.
No íntimo, ele tinha esperanças de encontrar, também, petróleo, o que tornaria sua micronação, além de independente, fabulosamente rica.
Apesar dos ideais de “completa liberdade”, tão apregoados naquela época dos movimentos hippies e que sempre nortearam o projeto, Rosa nunca escondeu de ninguém que sua ilha-nação teria, também, papel comercial e turístico, gerando dinheiro para os envolvidos – ele, sobretudo.
O projeto da Ilha Rosa previa uma espécie de edifício sobre o mar, com cinco andares de altura, para abrigar todos os que decidisse adotar a cidadania da ilha – que teria bandeira, hino, passaporte e até os vocábulos do esperanto como idioma oficial.
Além disso, teria um bar, um restaurante e uma lojinha de souvenires – que, por estarem fora da jurisdição italiana, tampouco pagariam impostos.
Mas, na prática, apenas metade do primeiro piso, o bar e a lojinha foram erguidos, porque as dificuldades em erguer construções em alvenaria no meio do mar se mostraram maiores do que a força de vontade irrefreável do italiano.
Na primeira noite que passou na sua sui generis ilha, uma fortíssima tempestade gerou ondas que quase arrastaram Rosa para o mar.
Qualquer um teria desistido na hora.
Mas ele não.
Perto dos gigantescos problemas gerados pela criação de uma ilha-nação à revelia do governo, um simples contratempo climático pouco significava.
A obstinação daquele italiano prestes a autocriar a sua próxima nacionalidade sempre falou mais alto do que a razão.
Por fim, em 24 de junho de 1968, Giorgio Rosa inaugurou a sua ilha em forma de plataforma e proclamou-a como uma nação independente: a República da Ilha Rosa – um “micro-estado” que, no entanto, país algum jamais reconheceu.
Logo, aquele exótico pedaço de mar onde as leis de outros países não valiam, virou uma espécie de Meca para os jovens naqueles acalorados anos de rebeldia social, e a ilha passou a ter cada vez mais movimento.
Isso incomodou ainda mais o governo italiano, que decidiu agir com inesperado rigor.
Alegando que a ilha de Rosa estava sendo usada como base para contrabando – além de “abrigar uma emissora pirata de rádio e servir de apoio para espiões russos”, entre outras mentiras -, a Marinha Italiana despachou um navio de guerra para lá, e, em 11 de fevereiro de 1969, pôs a obra do engenheiro a pique, a tiros de canhão.
O sonho da ilha-nação de Rosa durou apenas 55 dias – e ele ainda teve que pagar o custo da própria operação que a destruiu.
Mas, na ocasião, não havia mais ninguém na ilha.
Nem o próprio Rosa, que já havia se refugiado na Itália, alegando, contudo, estar em um “governo no exílio”.
Foram preciso duas sequencias de explosivos para, ainda assim, apenas danificar parcialmente a estrutura da ilha-plataforma – o que não deixou de ser um reconhecimento ao perfeito trabalho do engenheiro.
Dias depois, uma tempestade completou o serviço, embora, durante meses, os restos da Ilha Rosa tenham permanecido visíveis na superfície do Mar Adriático.
Quarenta anos depois, mergulhadores curiosos vasculharam o fundo do mar da região e acharam os restos da Ilha Rosa.
Um tijolo foi recolhido e dado de presente a Rosa, com uma dedicatória espirituosa: “Um pedacinho de um sonho para um grande sonhador”, dizia a mensagem.
Giorgio Rosa morreu em 2017, aos 92 anos de idade, ainda um tanto amargurado com a destruição da sua nação utópica, assunto sobre o qual só gostava de falar se fosse para explicar as soluções de engenharia que havia aplicado para resolver os muitos desafios de erguer uma plataforma no mar aberto e nela erguer uma ilha – história que, mais tarde, viraria um delicioso filme, apropriadamente chamado “A incrível história da Ilha Rosa”.
Mais incrível que isso, realmente seria difícil.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor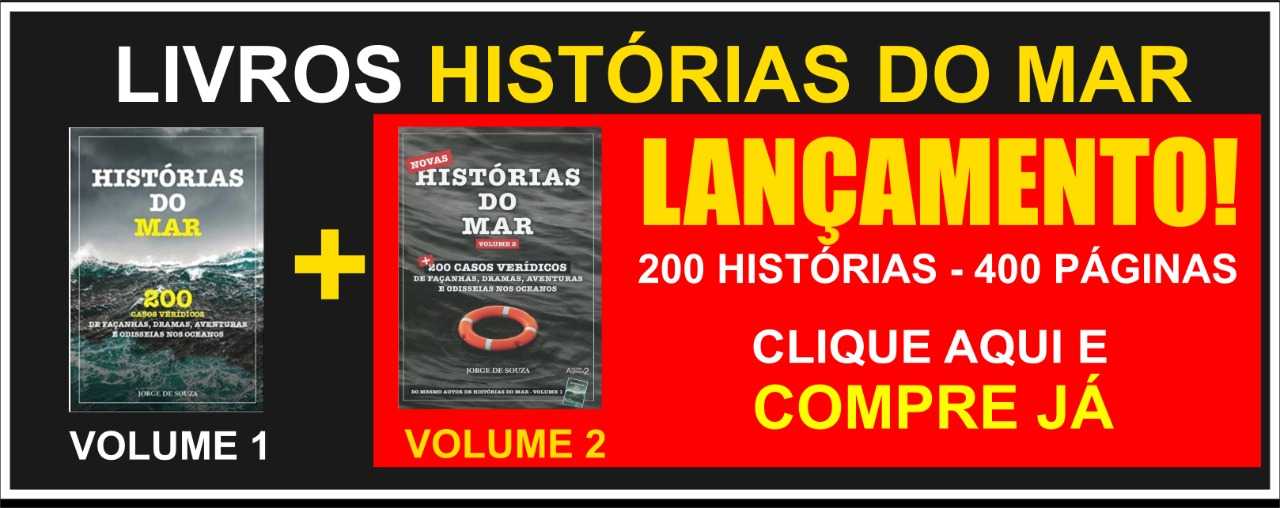

por Jorge de Souza | jul 27, 2023
Em 18 março de 1967, o comandante do super-petroleiro liberiano Torrey Canyon cometeu, de uma só vez, quase todos os erros que um comandante jamais poderia cometer: traçou uma rota errada – e, depois, ainda optou por pegar um atalho -, navegou com velocidade excessivamente alta, ignorou os alertas que constavam nas cartas náuticas, e, por fim, delegou a condução do navio a um timoneiro não habilitado.
E foi descansar, na sua cabine.
Pouco tempo depois, quando o tal timoneiro não qualificado (que também fazia as vezes de cozinheiro do navio) descobriu, atônito, que não sabia como desligar o piloto automático, a fim de penetrar em um estreito canal, o Torrey Canyon atropelou algumas conhecidíssimas pedras submersas que existem no litoral da Cornualha, no sul da Inglaterra, e estancou, com um enorme rombo no casco.
Naquele dia, cerca de 120 mil toneladas de óleo cru passaram a ser despejadas no mar inglês, gerando um dos maiores desastres ambientais da história da Europa.
Nos dias seguintes, em um esforço desesperado para tentar reduzir o tamanho do derramamento de óleo, o governo britânico chegou até a bombardear o casco do navio com aviões de caça, para que o incêndio gerado pelas bombas consumisse parte do petróleo.
Deu certo só em parte, porque as marés mais altas se incumbiram de apagar o fogo.
Só alguns dias depois, o fogo consumiu o que restava de óleo no navio, e ele, finalmente, afundou, com os porões já quase vazios.
Mas o estrago no meio ambiente já estava feito.
Apesar de tudo isso, no julgamento do caso, o imprudente comandante ainda alegou inocência.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor






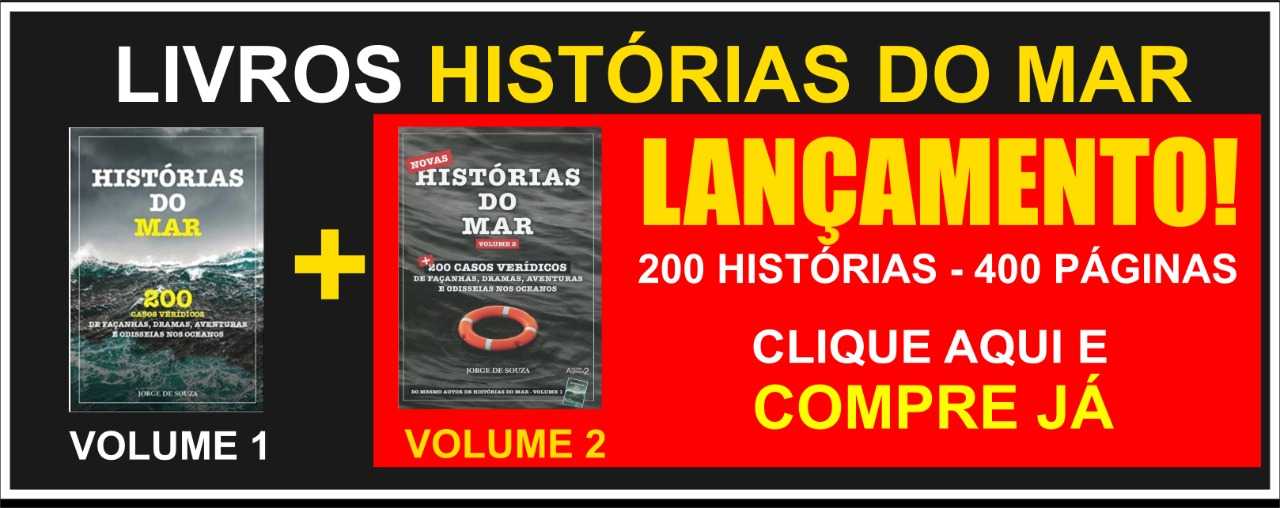

Comentários