Desde que botou na cabeça que iria “correr sobre o mar” dentro de uma espécie de bola plástica, dessas usadas para divertir crianças em piscinas e laguinhos, o iraniano Reza Baluchi já tentou por três vezes atravessar da Florida para as ilhas Bermudas dessa forma.
E nas três vezes foi detido pela Guarda Costeira americana, por “colocar em risco a própria vida” – além de gerar despesas com operações montadas para resgatá-lo no mar.
Só que Reza não se deu por vencido e já planeja uma nova tentativa, tão logo consiga arrecadar dinheiro para construir uma nova bolha, já que a anterior foi afundada pela polícia, para que ele não tentasse de novo.
Mas nem isso o fez mudar de ideia.
“Penso que todo mundo deveria ir atrás do seu sonho e o meu é atravessar até as Bermudas correndo sobre a água”, diz Reza, que é um peculiar corredor de ultramaratonas, especializado em longas jornadas em solitário.
Ele garante já ter atravessado duas vezes os Estados Unidos correndo de costa a costa, e feito em mesmo em todo o perímetro do país, bordeando as fronteiras com o México e o Canadá, sempre para arrecadar fundos para missões filantrópicas e, ao mesmo tempo, angariar publicidade para si mesmo.
A obsessão em correr longas distâncias por dias a fio já rendeu ao iraniano, que começou a correr ainda pequeno, no Irã, porque não havia meio de transporte para ir à escola, o apelido de “Forrest Gump”, o icônico personagem vivido por Tom Hanks no cinema, que corria sem parar e, embora simplório, era adorado por todos.
Mas, de tempos para cá, Reza, hoje com 50 anos e dono de certa popularidade nos Estados Unidos por conta justamente de seus feitos folclóricos, passou a ser mais conhecido como o “Capitão Bolha”, por causa da ousadia de querer correr sobre o mar dentro de uma espécie de roda giratória, o que ele já tentou três vezes.
A primeira vez foi em 2014, quando Reza partiu de uma praia da Florida e, dias depois, foi resgatado pela Guarda Costeira com visíveis sinais de esgotamento físico, após ter pedido orientação a um barco, no meio do mar, sobre “qual direção seguir para chegar às Bermudas?”.
Alertada pelo tal barco, a Guarda Costeira enviou embarcações e até um helicóptero para resgatá-lo em alto-mar, o que, segundo a entidade, gerou um custo de 140 000 dólares na operação.
Na volta, frente a determinação do iraniano, que não queria ser resgatado, Reza foi alertado de que, caso tentasse novamente aquela insana travessia, seria multado em 40 000 dólares, “por navegar em embarcação considerada inadequada”.
Na ocasião, o chefe da Guarda Costeira da Florida resumiu a ousadia de Reza Baluchi da seguinte forma: “É mais fácil ganhar na loteria do que aquela maluquice dar certo”.
Mesmo assim, dois anos depois, Reza tentou de novo atravessar da Florida para as Bermudas com sua bolha de plástico.
E, mais uma vez, foi detido pela Guarda Costeira e trazido de volta para a terra firme.
Mas não por muito tempo.
Apenas quatro meses depois, Reza partiu novamente.
Mas, desta vez, tomou a precaução de não fazê-lo a partir da Florida, para não infligir as leis americanas.
Ele convenceu um amigo, dono de um barco, a levá-lo até além dos limites do mar territorial americano, e de lá tomou o rumo das Bermudas, com sua bolha navegadora.
Mas, de novo, não foi longe.
Alertada uma vez mais, a Guarda Costeira foi novamente em busca do iraniano e o abordou quando ele “navegava” a cerca de 150 quilômetros da costa americana, alternando extenuantes sessões de corridas dentro daquela engenhoca revestida de plástico, onde o calor interno beirava os 45 graus, com períodos de descanso, quando armava uma rede e dormia dentro da própria bolha.
Como de hábito, Reza, a princípio, não quis desistir da travessia.
Mas acabou sendo removido a força, algemado e levado para exames em um hospital psiquiátrico – de onde saiu dias depois, após convencer os médicos de que não era louco, mas apenas um sujeito com uma ideia maluca na cabeça.
Já a sua bolha, para que ficasse claro que não mais seria usada, foi furada e afundada pela Guarda Costeira, impedindo assim Reza de fazer uma nova tentativa.
Pelo menos até que ele consiga arrecadar dinheiro suficiente para construir outra bolha, um dos seus objetivos no momento.
“Talvez eu leve uns três ou quatro anos para conseguir o dinheiro, mas isso só aumenta a vontade de realizar o meu sonho. Não vou desistir dele”, avisa o destemido aventureiro.
Maluquices a parte, a bolha do iraniano, projetada por ele mesmo, era um primor de engenharia criativa.
Continha, entre outras coisas, painéis solares que alimentavam baterias que o permitiam assistir até filmes no computador portátil (seu filme preferido era O Náufrago, que assistia enquanto descansava), e um dessalinizador, que transformava água do mar em potável.
Para dormir, Reza montava uma rede dentro da bolha e passava as noites boiando à deriva no mar, sendo rolado pelas ondas, feito uma rolha.
E para comer, servia-se – apenas – de barrinhas de cereais, que ele mesmo produzia.
Por dia, nos melhores dias, conseguia avançar cerca de dez quilômetros, correndo sobre o mar feito um hamster dentro de sua bolha giratória.
Sua previsão é que levaria cerca de cinco meses para chegar às Bermudas, que ficam a mais de 1 600 quilômetros da costa da Florida.
De lá, ele ainda pretendia descer até Cuba, antes de retornar aos Estados Unidos, completando assim toda a região conhecida como Triangulo das Bermudas, famosa pelos desaparecimentos misteriosos de aviões e embarcações.
Por três vezes, ele não conseguiu. Mas nem assim desistiu.
“Assim que der, eu tento de novo”, avisa o desmiolado Capitão Bolha.
Gostou desta história?
Ela faz parte do NOVO LIVRO HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que ACABA DE SER LANÇADO, e pode ser comprado com CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS
Clique aqui para ler outras histórias
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor






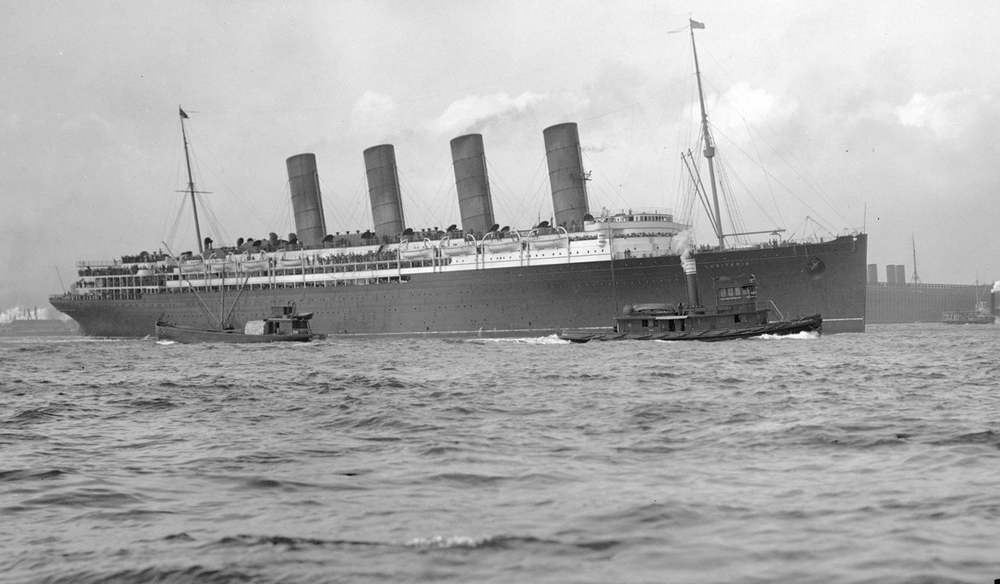

Comentários