
O obstinado caçador de um tesouro jamais encontrado
Entre as muitas histórias de supostos tesouros que teriam sido escondidos no litoral brasileiro, nenhuma é mais famosa – nem devotou tanto empenho em encontrá-lo – do que a que envolve o Saco do Sombrio, na ilha de Ilhabela, no litoral de São Paulo.
Sobretudo por um obstinado aventureiro: o engenheiro belga, radicado no Brasil, Paul Ferdinand Thiry.
Durante 40 anos, de 1939 até morrer, em 1979, Thiry pesquisou, estudou e escarafunchou, sozinho, uma das partes mais inóspita da maior ilha do litoral paulista, em busca da solução de um enigma, que, segundo ele, levaria a um tesouro ali escondido na primeira metade do século 19.
Mas Thiry morreu sem encontrá-lo, embora tenha descoberto uma intrigante série de marcos esculpidos nas pedras, que só poderiam ter sido feitos por mãos humanas.
E quem faria aquelas marcas se não fosse para indicar algo?
Thiry jamais teve dúvidas disso.
Se a busca por um tesouro em tempos modernos soa infantil demais para ser real, aquela desconcertante série de marcos encontrados por Thiry sempre deixaram encafifados até os céticos.
Segundo o belga, o que ele procurava no isolado saco do Sombrio, na parte mais erma da ilha – e que permanece assim até hoje -, era nada menos que parte do lendário Tesouro de Lima, tirado pelos espanhóis da América do Sul, em 1821.
A hipótese defendida por Thiry era a de que a tripulação do navio que transportava aquelas riquezas teria se apoderado da carga e a escondido em uma ilha da costa brasileira, que ele nunca duvidou que fosse Ilhabela – embora, por aqui, a história tenha se tornado mais conhecida como o Tesouro da Trindade, em alusão a mais remota ilha do litoral brasileiro, o que Thiry sempre discordou com veemência.
Thiry era um jovem engenheiro que trabalhava nas obras de saneamento no Rio de Janeiro, quando leu uma reportagem sobre o tal Tesouro da Trindade. E ficou fascinado.
A aventura estava no seu sangue.
Seu pai, que o trouxera para trabalhar no Brasil, fora o primeiro homem a escalar o morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, durante estudos para implantação dos bondinhos.
Mas Thiry também era meticuloso e disciplinado. Além de muito inteligente e quase matemático.
Durante dez anos, ele pesquisou a fundo aquela história.
Mas ficou particularmente intrigado porque, em alguns papéis, a identificação da suposta ilha aparecia como “chamada Trindade”.
Aquele “chamada Trindade” o deixou intrigado.
Se a ilha fosse realmente a de Trindade, por que não chama-la pelo próprio nome?
A menos que a ilha fosse outra…
Partindo dessa premissa, Thiry passou a procurar outras ilhas na costa brasileira que tivessem as mesmas características.
Entre elas, “uma grande baía abrigada, cascatas e montanhas”, segundo um dos documentos que ele pesquisou.
Thiry concentrou-se particularmente na figura geométrica, em forma de trapézio, que decorava um mapa da tal ilha.
Ele também continha uma enigmática inscrição, com traços que lembravam letras, números e desenhos, que, quando lidos rapidamente, davam a entender a palavra “G-Bay”.
Seria uma abreviatura de “Baía Grande”, quando traduzida para o português?
Para ele, que já havia intuído que a menção a Trindade poderia ser um mero disfarce, parecia claro que havia um enigma – inclusive matemático, a julgar pelo tal trapézio desenhado – a ser decifrado.
E começou a fazer cálculos aleatórios.
Num deles, pegou a distância que separa a Ilha de Trindade do continente brasileiro, 647 milhas náuticas, e a converteu em arcos, sendo que cada arco corresponderia a um minuto nas coordenadas de um mapa da costa brasileira.
O resultado apontou para uma região repleta de ilhas e isso passou a fazer algum sentido.
Depois, intuiu que as cifras dos tesouros mencionados em alguns documentos, “entre 3 e 5 milhões”, também pudessem significar outra coisa que não valores, e conjecturou que os números “3” e “5” poderiam ter a ver com a localização da ilha.
Em seguida, olhando atentamente para o tal desenho “G-Bay” estilizado em um dos mapas, ele visualizou, nos traços rebuscados da letra “B”, quatro números disfarçados: “2”, “3”, “5” e “2”, respectivamente. E se eles indicassem uma coordenada?
Quem sabe 23º52´?
Thiry pegou um mapa e, exatamente naquelas coordenadas, apareceu Ilhabela.
E aquela ilha também tinha um formato que lembrava vagamente um trapézio.
E também uma grande baía, chamada Castelhanos, nome que obviamente tinha tudo a ver com espanhóis.
Também possuia grandes morros e cachoeiras.
Para Thiry, eram coincidências demais para serem apenas isso.
Mas, a princípio, só ele acreditou que tudo aquilo fazia algum sentido.
Como Thiry não tinha recursos para bancar uma expedição exploratória, pediu ajuda a Marinha do Brasil.
E conseguiu.
Em 1949, um navio da corporação partiu do Rio de Janeiro, levando Thiry e um grupo de marinheiros, dispostos a pesquisar o Saco do Sombrio.
A base das buscas eram complicados mosaicos de triângulos superpostos, que Thiry desenvolvera a partir das leis da trigonometria, e que aplicaria sobre a geografia da grande baía da ilha.
Para ele, mais excitante do que achar um tesouro era solucionar aquele enigma matemático, que garantia existir por trás daquela história.
A quem duvidasse do seu complexo raciocínio, Thiry apenas dizia que quem não conhecesse matemática a fundo jamais entenderia mesmo.
Para os que acompanhavam o belga naquela expedição, foi preciso boa dose de imaginação e resignação.
Ele estava determinado a provar que aquela era a ilha do tesouro.
Naquela época, o saco do Sombrio não passava de um esquecido portinho de pescadores, onde viviam cinco famílias caiçaras e uma abnegada professora.
Mesmo hoje, não é muito diferente disso.
Uma densa vegetação, repleta de escorpiões, jararacas e outros bichos peçonhentos, cobria a íngreme topografia do lugar, escondendo também sorrateiros abismos, que despencavam direto no mar.
Além disso, a área era enorme e repleta de reentrâncias, que podiam muito bem esconder qualquer coisa.
Buscar um tesouro ali, que nem o próprio Thiry intuía de qual tamanho seria, era como procurar uma conchinha específica em uma praia a perder de vista.
Mas Thiry acreditava que a encontraria.
Mais tarde, após perder a ajuda da Marinha, que se retirou do projeto após o malogro de duas expedições ao local, Thiry, sozinho, conseguiu delimitar a área onde, segundo ele, repousaria o tesouro.
Também traçou um segundo triângulo, bem menor que o primeiro, em cujo centro haveria de haver um marco.
Adivinhação?
Para ele, não.
O que Thiry dizia estar fazendo era pura aplicação da ciência àquela busca meio absurda.
Ele garantia estar empregando as mesmas fórmulas científicas que teriam sido usadas pela mente superior que camuflara aquele tesouro, um século antes, debaixo de complicados enigmas matemáticos, que teriam que ser obrigatoriamente decifrados por quem almejasse encontrá-lo.
Do contrário, restaria apenas contar com a sorte, o que – isto sim! – Thiry pouco acreditava.
Sua principal ferramenta era a sua brilhante capacidade de fazer cálculos matemáticos precisos.
Difícil era acompanhar o seu raciocínio.
E ainda mais acreditar que apenas contas e números pudessem levar a algo de concreto, no meio daquela mata fechada.
Nisso, praticamente ninguém acreditava.
Até que, um dia, coincidência ou não, os cálculos de Thiry o fizeram topar com uma pedra cercada por outras, formando um círculo quase perfeito.
E nela havia três letras esculpidas: um “G”, um “M” e um “J”, além de um visível coração.
Coisa de namorados apaixonados?
Pouco provável naquele fim de mundo ainda selvagem, nos anos 1950.
Até porque, ao lado do tal círculo, havia uma espécie de pirâmide, formada por pedras cuidadosamente empilhadas.
Thiry ficou eufórico.
Para ele, aquele era o marco central do enigma, simbolicamente indicado pelo desenho do coração, “órgão central da vida”, explicou.
A partir dali, segundo ele, surgiriam outros marcos, até dar no tesouro.
E não é que surgiram mesmo, sempre nas interseções dos tais triângulos matemáticos traçados?
No total, ao longo das três décadas que passou fazendo buscas no saco do Sombrio (primeiro, auxiliado por um de seus filhos; depois, por um amigo, o advogado paulista Osmar Soalheiro), Thiry encontrou mais de 20 marcos – para ele, provas cabais de que estava no local certo.
Mas ele não conseguiu avançar na sua busca obstinada.
Em 1979, aos 74 anos de idade, Thiry morreu, ainda cercado pela incredulidade, mas com a admiração dos que o conheceram bem.
Como o próprio Soalheiro, que seguiu adiante com as buscas.
“Antes de conhecer Thiry, eu também o julgava um maluco” – disse, certa vez, Soalheiro.
“Mas, com o tempo, não só me convenci de que ele era mentalmente sadio, como dono de uma inteligência superior”.
Soalheiro, no entanto, só encontrou mais alguns marcos na mata, embora tenha vasculhado a ilha durante anos a fio, até também morrer, em 2011 – sem encontrar o tal tesouro.
No total, Thiry e Soalheiro perseguiram tesouro do Saco do Sombrio durante meio século.
Nada encontraram, a exceção dos tais intrigantes marcos, que estão lá até hoje.
A hipótese mais provável é que, se algo foi escondido ali, já teria sido recolhido – talvez pela mesma pessoa que o escondeu.
Ou não…
Uma história, portanto, até hoje sem um final.
Gostou desta história?
Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, VOLUMES 1 e 2 que podem ser comprados com DESCONTO DE 25% E ENVIO GRÁTIS, clicando aqui
VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS
“Sensacional! Difícil parar de ler”.
Amyr Klink, navegador
“Leitura rápida, que prende o leitor”.
Manoel Júnior, leitor
“Um achado! Devorei numa só tacada”.
Rondon de Castro, leitor
“Leiam. É muito bom!”
André Cavallari, leitor

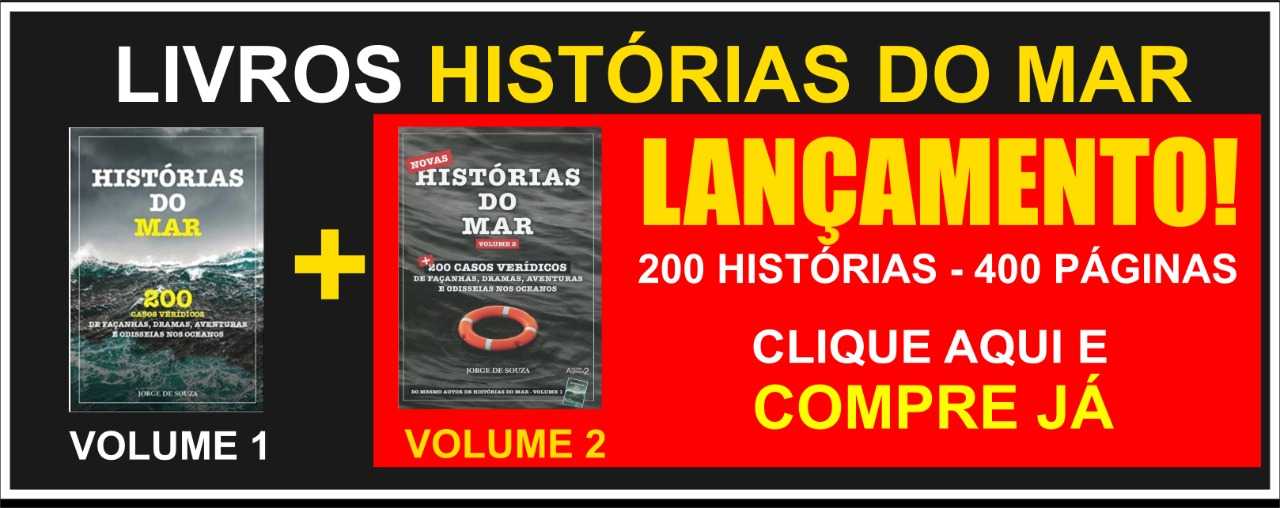






Comentários